Leituras estivais: Kleist (I)

Entre A Montanha Mágica em nova tradução, Os Meus Prémios, de Thomas Bernhard, e agora este Sobre o Teatro de Marionetas e outros escritos, de Heinrich von Kleist, as leituras de Verão (as minhas, em todo o caso) parecem dominadas pelo alemão.
Fico-me, por agora, por Kleist, esse autor sem par. Esta é uma edição exemplar, pelo cuidado com que foi feita – patente na acribia da anotação, na qualidade da Introdução, no rigor da tradução -, o que não surpreende, uma vez que o seu responsável, José Miranda Justo, já nos deu vários outros exemplos de excelência nesta mesma editora (relembro, assim de repente, as suas edições dos ensaios de Wagner, inexcedíveis).
O livro, diga-se, é um deslumbramento, pelos textos que enfeixa em torno do que lhe dá título e que acabam por tornar ainda mais denso (e único) esse texto tão enigmático. Somando a isso o cuidado de factura da Antígona, de novo patente neste livro, esta é uma edição para ler devagarinho, para saborear o fulgor de uma escrita e um pensamento como nunca voltou a haver e para guardar num lugar de destaque na estante.
Mas isso é para depois; por agora, transporto-o na mochila, vou lendo e relendo ao primeiro pretexto, sem vontade de me separar dele.
Fin de la minotauromaquia

“the eye is infinitely more potent than the gun”
Donna Haraway
Ni pingüinos, ni salmones, ni la ardilla roja, ni tan siquiera el lagarto del Loch Ness. Cuando cruzas el límite del bosque de los 100 acres, allá no conversarás con un Winnie the Pooh muy pulido por el tao (cfr. Hoff, The Tao of Pooh). En Grizzly Man (2005), Werner Herzog vuelve a los enemigos íntimos, acaso a la alteridad más recóndita e intratable (y, por ello, objeto ‘teológico’): la enajenación, que el documental modula en la cándida visión pastoril de un eco-guerrero: Timothy Treadwell. Radical revisión de los supuestos antropomorfizantes y humanistas del utopismo naturalista (que no ‘ecologista’) militante, la vida y muerte de Timothy Treadwell es la historia, justamente, de un encuentro impensable, de una regresión imposible: el reencuentro del hombre con una naturaleza totémica, la exterior pero también la interior (algo como una ‘naturaleza humana’). Hagiografía de la locura, pero también de una santidad distintivamente ‘étnica’ (es decir, de una santidad made in EE. UU. A.), la vida y muerte de San Timothy, cruce de restos del romanticismo transcendentalista americano y del idealismo rousseauniano, embarcado en una robinsonada al límite del límite, ve en el hermano oso un igual. De hecho, quiere ‘ser un oso’ y se comporta como un oso. Fábula, una vez más, americana: el mundo de la infancia, de la infancia en una familia de ‘clase media’ –motor naturalizado de la Historia, o de una Historia naturalizada, arcadia burguesa truncada por una deriva juvenil de alcohol y drogas (sic)–, es recuperado en el Katmai National Park. Bien literaria la ‘expiación’, en lo que tiene de búsqueda de una nueva frontera de redención, dónde se pueda empezar de nuevo, hacer tabula rasa, devenir adámico en la fusión humano/animal. Allá en la península de Alaska, habrá tenido Timothy su “day of reckoning”. Allá se salva, allá reencuentra padre, madre, acaso novias más y menos peludas: su zoo privado, su familia íntima (¿la familia es un zoo privado?). Una familia reinventada desde lo “fraterno”, una familia post-patriarcal porque no se basa en la domesticación. En fin, si el oso es su osito de peluche que los padres muestran a la cámara, el Katmai National Park es su zoo íntimo.
Su zoo íntimo… De ahí la invectiva delirante contra las autoridades del parque, enfrentamiento implacable a un Estado hobbesiano, a una sociedad leviatanesca, que inventa una política de reservas, inventándose al mismo tiempo como operador de distinciones, entre ellas, la más destacada, la que distribuye ‘lo animal’ y ‘lo humano’. Aún y siempre, invención decimonónica, romántica. Timothy, el individuo frente al Estado y a la Sociedad… pero ¡ojo!: ya es sólo el individuo como fantasma, pues Timothy no ‘da la cara’, no se enfrenta ni a poachers ni a turistas, los mira de lejos. Está allí, justamente, como locus genii. Y nada más es que espíritu del lugar en tanto que ‘personaje’ de su propia fábula, su auto-filmación. Asimismo, acaso el Estado enfrentado ya sólo es pensable como fantasma también. “Fuck you, fuck you”, corte de mangas, “Fuck you, fuck you”… armas con que Timothy, muy a lo Bouncy Tigger, hace la hipóstasis del Leviatán fantasmal. Aporías y agonías de la política de la amistad (cfr. Derrida, Politiques de l’amitié) y/o de la enemistad (cfr. R. de la Flor, “¡Oh amigos míos: no hay amigos! Políticas de la enemistad entre el Barroco y la Ilustración española”).
Acerquémonos, pues, al abismo de esa demanda de un engendro híbrido hombre-oso. Pero lo haremos trabando la escritura con otro devenir-animal: “man coupled with his animal in an underlying act of bullfighting” (Deleuze, “The Body, the Meat and the Spirit: Becoming Animal”). Un devenir-animal para nosotros más situado, el hombre-toro, ese “semidios bestial” táurico del que habla Michel Leiris en Espejo de tauromaquia (1938). Un acercamiento transversal –el Planeta del Oso y el Planeta del Toro, americano uno, hispano el otro– mediándolo por el límite borroso/borrado de la copulativa humano/animal. Herzog, Leiris y el dimidiado minotauromáquico.
Lo último primero: natura non fecit saltus, no hay comer ni ser deglutido, ni un cordero que fuera lobo, tan sólo un estar ahí –los insectos (a Timothy Treadwell no le gustan… ¿herencia de una retórica calvinista/puritana de un Jonathan Edwards y su “Sinners in the Hands of an Angry God”?), aunque no creas en ellos, los insectos están siempre ahí, pura inmanencia, lo Real–, una ondulación de diferentes intensidades, sin expansión o contracción. Ecce imago: ¿La mirada de un oso? ¿La mirada de un toro? ¿Qué ‘mirada’? Un ombligo invidente, un ombligo en el paisaje, la plaza como ombligo. En tanto que espíritu del lugar, Timothy borra la distinción entre yo y afuera. Pudiera ser que su mirada a la cámara fuera tan vacía como la del OSO 141. La cámara digital, el metraje digital de más de cien horas de grabación, ¿es mirada de qué o quién? En todo caso, lo que cuenta es el ojo de la cámara, nueva “máquina en el jardín” bucólico americano (cfr. L. Marx, The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America).
Comentários Desativados em Fin de la minotauromaquia
Uma Pequeníssima Introdução à Sexualidade

Véronique Mottier
A colecção “A Very Short Introduction”, publicada pela Oxford University Press, já vai em mais de 200 títulos, e conta com página web, blogue e programa de eventos relacionados. Estes livrinhos, verdadeiramente portáteis, procuram estabelecer de forma sucinta a história de um conceito, escrita por nomes maiores de várias áreas do saber, e onde cabe quase tudo o que se possa imaginar, da Teoria da Literatura (por Jonathan Culler), passando pela Guerra Civil Espanhola (Helen Graham), A Cabala (Joseph Dan), O Marquês de Sade (John Phillips) ou mesmo O Sentido da Vida (Terry Eagleton).
Desengane-se quem procura a introdução impessoal, neutra, ao estilo das sebentas e dos manuais escolares, a acumulação de factos providenciada por alguma máquina de escrever História. O volume Sexuality:A very short introduction (2008), de Verónique Mottier não é apenas um manual de introdução à história da sexualidade, mas é marcadamente um ensaio de Verónique Mottier sobre este tema, cada página indelevelmente assinada pelas preocupações intelectuais e estilo da autora.
Seguindo de perto Foucault, Mottier começa por uma curta abordagem à História da Sexualidade (Ocidental) desde a pederastia grega, passando pela castração/castidade cristã, e rapidamente avançando para a viragem do século XIX para o XX, com a centralidade dos conceitos de feminismo e de direitos dos homossexuais no nosso tempo. A particular atenção dada aos elementos marginalizados na estrutura de poder (mulheres heterossexuais; homossexuais homens e mulheres) prende-se àquilo que Mottier classifica como a grande” ironia”da História: o facto de os elementos mais marginalizados da heterossexualidade terem sido os principais agentes nas transformações das sexualidades e das formas de relacionamento (heterossexual ou não) da contemporaneidade.
Aliás, Mottier vai mais longe, ao questionar se, neste mundo pós-moderno em que vivemos, a natureza fluida da identidade de género e da identidade sexual não fará de todos nós “POMOssexuais” (PÓs-MOderno):
Does that mean that, in future, we will all think of ourselves as pomosexuals? Are we currently witnessing the final death throes of heterosexuality and homosexuality?
Anthony Giddens, citado na contra-capa deste livro, diz a propósito do mesmo que deveria ser de “leitura obrigatória em todos os cursos sobre sexualidade que há no mundo”. Eu atrevo-me a dizer que deveria ser de literatura obrigatória para todos aqueles a quem diz respeito, ou seja, para todos nós. Recomendo-o muito especialmente a@s noss@s deputad@s, que tão à deriva se encontram neste “mundo líquido” da modernidade.
Véronique Mottier, Sexuality: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2008. [ISBN 978-0-19-929802-0]
Comentários Desativados em Uma Pequeníssima Introdução à Sexualidade
30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)
Significa isto que é difícil fazer a crítica de uma banda tão «representativa» sem, de algum modo, incorrer na crítica de toda a situação por ela representada. O livro de ACF informa-nos, por exemplo, de que no dia 8 de Maio de 1987, data do lendário concerto dos Xutos no pavilhão de Os Belenenses, a banda recebeu um telegrama de Rui Reininho que rezava apenas «Avante camaradas». Não custa ver neste incitamento irónico o reconhecimento não irónico de que muito do futuro do rock em Portugal passava, como depois se tornou visível, por esse concerto, ou por tudo o que nele tornou os Xutos maiores do que eles mesmos, conduzindo-os àquele lugar, aquém e além da crítica, que é próprio dos mitos (ou, o que é o mesmo na modernidade, das locomotivas).
O que faz também do livro de ACF um acontecimento no panorama pobre da nossa escrita rock é o facto de a autora ter intuído, com rara penetração, o predomínio da voz sobre a letra na cultura rock (ou na auto-representação que esta de si mesma produz). O livro, seguindo uma tradição forte no campo da escrita de livros de percurso de bandas rock, é construído como uma montagem de depoimentos, graficamente assinalados pelo itálico que se segue ao nome do depoente. O espaço preenchido pelos caracteres em redondo, atribuídos à (voz) escrita da autora, reduz-se significativamente e o leitor é tomado de assalto por toda a ilusão de presença cara à física e metafísica do rock – a performance pura e plena («autêntica»), sem qualquer mediação, isto é, o triunfo do corpo suado e, tantas vezes, tendendo ao nu – ou, noutro vocabulário teórico, mais aristotélico, pelo predomínio esmagador do showing sobre o telling, tão típico de formas de literatura de massas como o romance policial ou a FC, em que o diálogo abafa a narração e, mais ainda, a descrição, acelerando a leitura até à vertigem.
O que daqui resulta é, tecnicamente, «história oral», e, musicalmente, escrita rock, no sentido em que esta vive da produção de uma série de efeitos de auto-anulação da sua dimensão escritural em favor da manifestação forte da voz, uma voz que seria, idealmente, sem filtro e sem excessos de «produção». Vozes «cruas», como determinou, para as guitarras dos Xutos no seu primeiro disco, o radialista António Sérgio, promovido a produtor.
Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)
O Chekhov dos subúrbios
 Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.
Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.
Cheever é por vezes apelidado como «o Chekhov dos subúrbios», e podemos encontrar neste volume reunidas algumas das suas histórias mais conhecidas, entre as quais se encontram «Adeus, meu irmão», «O rádio enorme», «O comboio das cinco e quarenta e oito» e «O marido do campo».
Convém talvez acrescentar que os contos reunidos de Cheever obtiveram o Prémio Pulitzer de 1979 para ficção. (Tradução segura de José Lima).
John Cheever. Contos completos I, Lisboa, Sextante. [ISBN: 978-989-8093-87-5]
Comentários Desativados em O Chekhov dos subúrbios
Darwin rules
 Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.
Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.
Darwin é, a par de Freud e de Nietzsche, um dos pensadores que melhor emblematiza o legado intelectual, senão mesmo cognitivo, que é hoje o nosso.
André Levy et. al. Evolução: história e argumentos. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-55-5]
André Levy et al. Evolução: conceitos e debates. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-75-3].
Comentários Desativados em Darwin rules
Uma espécie de vírus
 Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.
Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.
Sperber é um antropólogo (que não enjeitou uma certa concepção de «natureza humana» cuja influência pós-estruturalista teria diluído) e um cientista cognitivo.
Para Sperber, as ideias ou «representações» são contagiosas.
Elas espalham-se numa população como se fossem vírus (a semelhança com a «memética» de Dawkins tem porém de ser matizada: enquanto que a mutação é regra nas representações, no caso dos vírus tal mutação é excepcional).
Este processo é dinâmico: pessoas, ecologia, e as próprias representações são transformados. Explicar a cultura é, para Sperber, descrever as causas e os efeitos deste contágio pelas representações. Sperber reconconceptualiza assim o domínio da cultura em termos de padrões ecológicos de fenómenos psicológicos, ou seja, em termos de uma «epidemiologia das representações». Não há aqui lugar para qualquer forma de «reducionismo» (ainda que se Sperber se recuse a demonizar aquilo a que se chama de reducionismo). A cultura é entendida como o resultado de um processo complexo que acontece numa recursividade permanente entre factores cognitivos e factores ecológicos. Para Sperber, a cultura é o «precipitado da cognição e da comunicação numa população humana» (p. 97).
Sperber tem coisas muitas sérias a dizer sobre a eficácia causal (e os perigos) das representações, mas não parece ter sido levado muito a sério pela maioria dos antropólogos e cientistas sociais contemporâneos, incapazes talvez de se aproximarem das propostas da ciência cognitiva contemporânea sem temerem o perigo de uma espécie de contágio conceptual naturalizador e cognitivista. A excepção será seguramente Harvey Whitehouse.
Comentários Desativados em Uma espécie de vírus
30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)
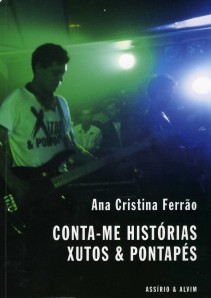
«Os Xutos são o povo. Os Xutos são as pessoas» (p. 254); «Xutos é Portugal» (p. 285); «Os Xutos tocam-nos» (p. 249): três frases, ou três máximas, reveladoras do impacto dos Xutos & Pontapés, entre as várias contidas no livro de Ana Cristina Ferrão (ACF), Conta-me Histórias. Xutos & Pontapés, recentemente reeditado, sendo apenas uma delas, a última, da lavra da autora.
Mas, 30 anos depois do brevíssimo concerto do dia 19 de Janeiro de 1979 nos Alunos de Apolo pela banda então chamada Xutos & Pontapés Rock’n’Roll Band, como significam hoje estas máximas? Desde logo, como significa, como funciona hoje, o livro de ACF, 18 anos após a sua 1ª edição? Para quem, como o autor desta resenha, entende que os Xutos duraram 10 anos – os anos dos grandes temas que são «Sémen», «Esquadrão da Morte», «1º de Agosto», «Barcos Gregos», «Homem do Leme», «Remar, Remar», «Não sou o único», «N’América» e alguns mais -, o livro de 1991 saiu na altura certa, criando aliás uma possível genealogia local para o «livro sobre banda rock» que não teve, como é manifesto, descendência à altura. Olhando aliás para trás desde este ano de 2009, o que nos fica do género é escasso e algo inconsequente. Penso nos dois casos mais óbvios – o livro de Luís Maio sobre os GNR, de 1989, e o de Vítor Junqueira sobre os Mão Morta, de 2004 -, muito diferentes entre si e que contudo revelam a mesma dificuldade: não conseguem gerir os problemas que os objectos que tratam lhes colocam, ao contrário do sucedido no livro de ACF na edição de 1991.
Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)
Melville ou o sublime

Será talvez o grande paradigma da ficção americana à sombra tutelar do qual se acolhem escritores tão diversos como Faulkner, Don Dellilo, Thomas Pynchon, ou John Barth.
O que não conhecíamos em português, até onde julgo saber, era o Melville poeta.
Esta lacuna está agora preenchida após estas traduções/versões de Mário Avelar publicadas na Assírio & Alvim. Os poemas de Melville reiteram um tema que é um dos seus tópicos mais inquietantes: a indiferença da natureza aos desígnios do humano. Isto pode ser ilustrado pelo poema magnífico que é «The berg (a dream)» / «O Icebergue (o sonho)», que é também um belo exemplo do que poderá ser a «estética do sublime». Deixo aqui a primeira estrofe (p. 55):
Vi um barco de porte marcial
(de flâmulas ao vento, engalanado)
Como por mera loucura dirigindo-se
Contra um impassível icebergue,
Sem o perturbar, embora o enfatuado barco se afundasse.
O impacto imensos cubos de gelo cair fez,
Soturnos, toneladas esmagando o convés;
Foi essa avalanche, apenas essa –
Nenhum outro movimento, o naufrágio apenas.
Herman Melville. Poemas, Assírio & Alvim. 2009, trad. de Mário Avelar [ISBN 978-972-37-1357-2].
Comentários Desativados em Melville ou o sublime
Da civilização e das bruxas

«-Quem é a tia Em? – perguntou a velhinha.
-É a minha tia que vive no Kansas., o lugar de onde eu venho.
A Bruxa do Norte pareceu pensar durante um bocado, com a cabeça curvada e os olhos postos no chão. Depois, olhando para cima, disse – Não sei onde fica o Kansas, porque nunca ouvi falar nessa terra. Mas, diz-me, é uma terra civilizada?
-Oh, sim – respondeu Dorothy.
– Então, isso explica tudo. Penso que nos países civilizados já não há bruxas, nem feiticeiros, nem feiticeiras, nem mágicos. Mas, sabes, a Terra de Oz nunca foi civilizada, pois estamos separados do resto do mundo. Por isso é que ainda temos bruxas e feiticeiros entre nós.»
Frank Baum, O Feiticeiro de Oz, Tradução de Lúcia do Carmo Cabrita Harris, Colecção Geração Público, 2004, p. 14.
Comentários Desativados em Da civilização e das bruxas
O visível e o invisível em Paulo Valverde
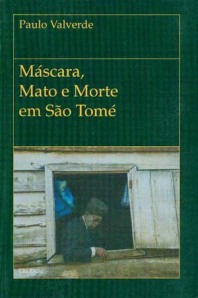 [Paulo Valverde. Fez agora em Abril passado, mais precisamente no dia 4, dez anos sobre a morte daquele que terá sido porventura um dos mais significativos antropólogos portugueses de sempre. Dir-se-á que é fácil atingir essa meta, porque a concorrência sempre foi de pequena monta. Sim, sem dúvida. Mas para quem alguma vez assistiu a uma aula deste homem que morreu com 37 anos, ou para quem teve o prazer de ler as suas páginas hoje tão esquecidas, a sua celebração é incontornável. Nesse sentido, gostaria de deixar aqui um ensaio meu já com alguns anos que desenvolve algumas linhas de interpretação do que poderá ser a sua escrita e a sua estratégia de recodificação desse «texto» que é a «cultura». O ensaio faz remissões ao livro póstumo que inclui muitos dos seus trabalhos mais teóricos e uma parte que creio substancial dos seus diários e notas de campo. Serve também o presente post para chamar a atenção para esse livro que deverá estar, estou certo disso, a apodrecer, exemplares muitos, nalgum canto escuro de um armazém de refugos. Triste sorte para um prosador extraordinário cuja escrita terá pouquíssimos antecedentes entre nós, e que, no seu melhor, ombreia com páginas de Malinowski e de Leiris. Ah, é verdade, aí vai a referência: Paulo Valverde, Máscara, Mato e Morte. Textos para uma etnografia de São Tomé, Oeiras, Celta, 2000.].
[Paulo Valverde. Fez agora em Abril passado, mais precisamente no dia 4, dez anos sobre a morte daquele que terá sido porventura um dos mais significativos antropólogos portugueses de sempre. Dir-se-á que é fácil atingir essa meta, porque a concorrência sempre foi de pequena monta. Sim, sem dúvida. Mas para quem alguma vez assistiu a uma aula deste homem que morreu com 37 anos, ou para quem teve o prazer de ler as suas páginas hoje tão esquecidas, a sua celebração é incontornável. Nesse sentido, gostaria de deixar aqui um ensaio meu já com alguns anos que desenvolve algumas linhas de interpretação do que poderá ser a sua escrita e a sua estratégia de recodificação desse «texto» que é a «cultura». O ensaio faz remissões ao livro póstumo que inclui muitos dos seus trabalhos mais teóricos e uma parte que creio substancial dos seus diários e notas de campo. Serve também o presente post para chamar a atenção para esse livro que deverá estar, estou certo disso, a apodrecer, exemplares muitos, nalgum canto escuro de um armazém de refugos. Triste sorte para um prosador extraordinário cuja escrita terá pouquíssimos antecedentes entre nós, e que, no seu melhor, ombreia com páginas de Malinowski e de Leiris. Ah, é verdade, aí vai a referência: Paulo Valverde, Máscara, Mato e Morte. Textos para uma etnografia de São Tomé, Oeiras, Celta, 2000.].
Entre a pequena comunidade de antropólogos sociais portugueses, é reconhecida a enorme perda intelectual e afectiva (sobretudo para aqueles que com ele privaram de perto) que representou o falecimento prematuro de Paulo Valverde (1961-1999). Vítima de malária contraída em São Tomé, Paulo Valverde afirmar-se-á cada vez mais como uma espécie de personificação trágica e mítica da figura do antropólogo enquanto herói. Não no sentido lévi-straussiano do termo, isto é, enquanto herói civilizador capaz de resgatar o fogo sagrado de culturas cujo recorte elegíaco ou crepuscular se tornou forçosamente aparente durante o século XX. Mas antes como aquele que, compreendendo o quanto há de culturamente perverso nas modalidades salavacionistas mais ou menos declaradas mais ou menos conscientes da disciplina, se afadiga em traçar-lhe novos rumos não apenas metodológicos (Paulo Valverde era alguém que, comprometido com uma dada tradição metodológica, o fieldwork situado e localista, parecia cada vez mais incomodado com os seus limites) , mas também, e com especial ênfase, novos rumos analíticos. O heroísmo, a haver um, está na determinação e no seu risco (um risco que ele assumira e que pode ser qualificado igualmente pela intimidade cultural, sem par entre os antropólogos sociais portugueses das últimas décadas, que foi assegurando no terreno). Paulo Valverde acreditava na possibilidade da disciplina se reconstituir enquanto analítica das metanarrativas modernas, entre as quais se encontrariam, certamente, os projectos salvacionistas e politicamente correctos evidenciados por tantos dos seus contemporâneos, e, de forma particularmente indiossincrática e inquestionavelmente sedutora, demonstrava-o através dos seus textos, aulas, e inúmeros momentos de discussão informal de que poderam beneficiar todos aqueles que foram seus alunos e colegas. (more…)
Comentários Desativados em O visível e o invisível em Paulo Valverde
Irvine Welsh e a morte da literatura
 O romance de Irvine Welsh, originalmente publicado em 2002, é construído em torno de múltiplas vozes, vozes essas que são reconhecíveis após a leitura do célebre Trainspotting (1996), do qual é, aliás, uma sequela. Welsh é uma espécie de escritor picaresco e joyceano que escreve furiosa e polemicamente sobre a experiência contemporânea.
O romance de Irvine Welsh, originalmente publicado em 2002, é construído em torno de múltiplas vozes, vozes essas que são reconhecíveis após a leitura do célebre Trainspotting (1996), do qual é, aliás, uma sequela. Welsh é uma espécie de escritor picaresco e joyceano que escreve furiosa e polemicamente sobre a experiência contemporânea.
Um aspecto particularmente interessante prende-se com o uso dos diálogos e dos idiomas locais e de grupo que podemos descobrir aqui em registos diversos, entre os quais se destacam, evidentemente (para quem já conhece Welsh), as práticas e linguagens próprias de uma certa marginalidade/youth culture britânica, de que Welsh é, sem dúvida, um magnífico mitógrafo.
Ninguém há como Welsh para nos mostrar a «fala» dos seus protagonistas, com uma eficácia verdadeiramente estonteante e paródica. Talvez Welsh seja mesmo um dos mais interessantes émulos de Joyce, hoje.
O livro é, aliás, excelente para quem gosta de ver as possibildades literárias do calão a acontecerem na página.
Prefiro citar aqui, porém, o primeiro parágrafo do capítulo com o inefável título de «…punhetas mal batidas…». Aí Welsh mostra-nos através da voz de uma das suas personagens (Nikki), como a literatura já não é o que era, e como ela exige uma reconfiguração dos seus limites e temas:
«Cada vez que mudo de disciplina sinto-me mais fracassada. Contudo, a meu ver, os cursos académicos são como os homens; mesmo o mais fascinante só consegue cativar o nosso interesse durante algum tempo. Agora o Natal já passou e estou outra vez solteira. Mas o facto de mudar de disciplina não é tão angustiante como mudar de instituição pedagógica ou de cidade. Consolo-me por ter ficado na Universidade de Edimburgo um ano inteiro, bem, quase. Foi a Lauren que me convenceu a mudar de curso de literatura para estudos dos media e do cinema. A nova literatura é o cinema, disse ela, citando uma revista idiota qualquer. Como é óbvio, expliquei-lhe que não é nos livros nem no cinema que as pessoas hoje em dia aprendem alguma coisa sobre a narrativa, mas nos jogos de vídeo. Se realmente queremos ser radicais e modernos, devemos passar os nossos dias no salão de jogos do bairro a rivalizar com um monte de gajos anémicos, para garantir o teu lugar nas máquinas» (p. 35).
Irvine Welsh. Porno, Quetzal, 2009, trad. de Colin Ginks [ISBN 978-972-564-759-2].
Comentários Desativados em Irvine Welsh e a morte da literatura
Edgar Allan Poe sem intuição e sem acaso
 Poe é um dos portais da modernidade literária. Sem ele, outra seria a nossa percepção do que foram/são Baudelaire, Mallarmé, Eliot, Pessoa, etc. Sem ele, não teríamos muito provavelmente, o drama da emoção e da razão tal como o viveram e expressaram os modernos.
Poe é um dos portais da modernidade literária. Sem ele, outra seria a nossa percepção do que foram/são Baudelaire, Mallarmé, Eliot, Pessoa, etc. Sem ele, não teríamos muito provavelmente, o drama da emoção e da razão tal como o viveram e expressaram os modernos.
Nos duzentos anos sobre o seu nascimento (Poe nasceu a 19 de Janeiro de 1809 e faleceu a 7 de Outubro de 1849), o mais traduzido dos autores americanos em Portugal, tem nesta Obra Poética Completa uma das suas homenagens mais significaticas.
Poe foi talvez um dos primeiros poetas a explicitar uma poesia por vir, marcada pelos desígnios maiores da ciência. A diluição dos «enigmas» da natureza e do humano, a convivência com um mundo «desencantado», a urgência de recodificação através das lições do gelo que a ciência comportava e comporta inexorovelmente: tudo temas que a poesia de Poe articula de um modo constante, ao mesmo tempo que pretende aceder a um patamar de reinvenção formal da escrita onde se apela a uma exigência de «método» (que o célebre ensaio «A Filosofia da Composição» enuncia).
Esta tensão entre o desencantamento do mundo e a sua requalificação pode ser ilustrada através do poema «Soneto – À Ciência»: «Ciência, ó filha do Tempo Velho! / Que, de olhos coruscantes, tudo espreitas, / Por que rasgas ao poeta o amplo peito, / Abutre de asa rude que se engelha? Como te pode amar, crer-te avisada, / Que o não deixaste andar, errante, ao vento, / Buscando as jóias que há no firmamento / Ainda que o singrasse de asa ousada? / Diana escorraçaste da quadriga, / Do bosque a Hamadríade (fugindo / Ela a abrigar-se em estrela mais amiga), / À Náiade tiraste a onda cava, / Ao elfo o prado, e a mim o tamarindo / Em cuja sombra eu no Verão sonhava.» (OPC, p. 80).
A edição é primorosa, com uma excelente tradução, introdução e notas de Margarida Vale de Gato (uma tradutora que merece referência pela qualidade e quantidade do seu trabalho de tradutora), e com notáveis ilustrações de Filpe Abranches.
Acresce ainda o já referido ensaio “A Filosofia da Composição” (pp. 273-288), onde Poe explicita a génese de «The Raven» (ler p. 277), e nos revela a intenção de uma poesia sem «acaso» e sem «intuição».
É pena que a edição não seja bilingue; porém é compreensível: tal projecto iria seguramente encarecer uma edição desta exigência gráfica.
Edgar Allen Poe, Obra Poética Completa. Tinta-da-China, 2009 [ISBN 978-972-8955-93-9].
Comentários Desativados em Edgar Allan Poe sem intuição e sem acaso
Por uma ciência da civilização

Partidário de uma reflexão iconoclasta projectada sobre alguns dos temas contemporâneos mais problemáticos, em A Loucura de Deus Peter Sloterdijk ocupa-se do inquietante potencial de violência que os três monoteísmos mantêm no mundo actual. Ele pode preludiar, de certa forma, uma «guerra mundial» de um novo tipo, na qual as três grandes religiões com pretensões universalistas se defrontariam num combate total de morte e destruição destinado a obter o monopólio do absoluto e da verdade. Desde logo pela interferência da religião judaica, apoiada numa espécie de contrato «entre um psiquismo grave e grande e um Deus grave e grande». Depois, um cristianismo que conserva muitas das características que o ligam ao judaísmo mas integra «acentos cristológicos» de uma novidade ainda subversiva que lhe conferem uma dinâmica de proselitismo. Por fim um Islão que procurou, desde o seu atribulado início histórico, corrigir as falhas, as «errâncias», dos monoteísmos que o precederam, integrando desde a primeira hora «impulsos religiosos e político-militares» de uma natureza prática e belicosa.
Comentários Desativados em Por uma ciência da civilização
O fim dos bravos

«Com mil demónios! Julgo que não teríamos conseguido se eu não tivesse lá estado!» A frase foi pronunciada pelo Duque de Wellington quatro dias após ter comandado as tropas britânicas, holandesas, belgas e alemãs na batalha de Waterloo, selando aí o destino de Napoleão Bonaparte. Evoca também o tema central deste livro de John Keegan editado há já mais de vinte anos, logo após O Rosto da Batalha. Neste, era o soldado o protagonista, evocado na sua relação com a experiência directa da dor, da vozearia, do terror, da audácia e da exaustão espalhados pelos terrenos do combate. Em A Máscara do Comando é a figura do general ou daquele que assume o comando supremo que se encontra no centro, abordada pelo historiador a partir da leitura de quatro biografias e de quatro diferentes modelos de liderança.
Comentários Desativados em O fim dos bravos
Nas Carolinas (Wallace Stevens)

Os lilases murcham nas Carolinas.
Já as borboletas adejam sobre os camarotes.
Já os recém-nascidos interpretam o amor
Nas vozes das mães.
Mãe intemporal,
Como é que teus galantinos mamilos
De uma vez verteram mel?
O pinheiro adoça o meu corpo
A íris branca embeleza-me.
[Trad. Luís Quintais]
Comentários Desativados em Nas Carolinas (Wallace Stevens)
Acidente e simulação em JG Ballard (pré-publicação)
 Negativity is a positive task.
Negativity is a positive task.
Paul Virilio
De que forma é que a literatura cooptou um dos dados mais fundamentais da experiência moderna: a presença incontornável (e o lado inexorável dos processos que essa presença reclama) de uma paisagem radicalmente transformada pelo concurso da ciência, ou melhor, da tecno-ciência? A pergunta instala-se imediamente num contexto de contornos difusos, mas mesmo assim decisivo para nós. A noção de tecno-ciência faz-nos assumir que o conhecimento científico se inscreve em complexas configurações de natureza social e material que lhe dão a sua gravidade, densidade, e poder. De que forma é que a literatura respondeu às figurações utópicas e distópicas do projecto moderno que visava projectar o mundo de acordo com os preceitos de um conhecimento politicamente necessário porque experimentalmente validável e universalmente verdadeiro?
Como alguém que prefere uma singularidade para fazer ecoar forças de improvável cartografia que a atravessam, sugiro que nos concentremos num exemplo cujas reverberações se tornam, a meu ver, reveladoras. A minha sugestão é que nos atenhamos a uma espécie de genealogia mais ou menos solta da escrita de um romance particularmente influente e sobre o qual se projecta uma luz que gostaria de caracterizar como oracular, isto é, como se se tratasse de um objecto que reclama uma exploração extrema (e extremada) realizada num território de potencialidades que parecem emergir sinuosamente do presente, esse presente que se dilata e que nos colhe irremediavelmente. Estou a falar de Crash (1973) de JG Ballard, e Crash pode ser pensado a montante, porque o livro é o resultado de um conjunto de obsessões que lhe são prévias.
Em conformidade com um dos preceitos ballardianos que nos diz que, para lá das nossas obsessões, pouco haverá que valha a pena ser perseguido, Ballard aventurou-se quase sistematicamente, desde finais da década de sessenta, num território de inquietação profunda a que Freud designou de Das Unheimliche, e a que o antropólogo Victor Turner chamaria certeiramente de liminar, isto é, um território de improvável classificação, porque betwixt-and-between: nem dentro nem fora, mas antes no umbral, aí onde a viscosidade (um mundo que não é líquido e que não é sólido) se torna uma constante afectiva, e onde aquilo que nos fascina é igualmente aquilo que nos repugna.
O cenário é o de um mundo onde se dramatiza e performatiza o espectáculo debordiano de uma sociedade de consumo que faz das derivas tecnológicas – e dos sulcos que estas deixam no tecido da história e da paisagem – uma alavanca para o seu exercício autofágico e onde, polémica e prescientemente, tecno-ciência e pornografia se associam num exercício de reconfiguração do poder e do desejo.
(…)
No seu último Miracles of life, Shanghai to Shepperton: an autobiography (2008), Ballard revisita Crash, revelando-nos, mais uma vez, como se trata um livro profundamente enraizado num período histórico (os sixties) e como a tópica do «acidente» e da (more…)
Comentários Desativados em Acidente e simulação em JG Ballard (pré-publicação)
JG Ballard

Faleceu o nosso correspondente em Shepperton. Leia-se, por exemplo, o obituário do Guardian.
Comentários Desativados em JG Ballard
Uma livraria

Ninguém lhe chama “um espaço”. Ninguém lhe chama “um conceito”. Não é multimédia. Não vende café. Não funciona como sala de concertos. Não é um projecto inovador. Não vende pins nem postais. Não é o último grito da vanguarda. Não é uma galeria. Não vende cd’s. É só uma livraria.
Comentários Desativados em Uma livraria
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VII)

Colocado expressamente sob signo infausto, Corvo seria a taumaturgia de um território que não sobreviveu. As três epígrafes do livro – Poe, La Fontaine e o rimance de D. Filomena que convém transcrever: «Os corvos lhe comam os olhos e a raiz do coração» – não apenas declaram esse fado como deslocam a questão do território para o plano de uma mediação situável entre poesia e cultura e, ainda, entre o popular e o erudito. O poema inicial, porém, declara o corvo (aqui um devir outronímico do poeta) um taumaturgo de feira – «de ti os vindouros sem penas / farão arroz de cabidela / ou quem sabe torpe gralha, / de corvo corruptela.» -, anunciando a sua desqualificação em gralha, consumada no último acto/poema do livro. Mas declara sobretudo a inutilidade da taumaturgia enquanto protesto que nada pode, tanto quanto a indignação ou revolta nada pode contra a naturalização do devir do mundo do tardo-capitalismo (chamemos-lhe «desertificação do interior», «abandono do mundo agrário» ou «efeitos da globalização»).
A inteligência deste livro reside porém na permanente sobreposição da «lógica do poético» à do mimético e, em consequência, na deflação das nem que apenas tentações de confiar um programa de salvação a um regime ou registo mimético. Os versos que transcrevi do poema inicial tanto são o auto-retrato do corvo enquanto taumaturgo falhado – e como o não seria, sendo ele, em rigor, uma persona vicária, e talvez propiciatória, do mundo secularizado, que delega em corvos e fantasmas os seus desejos inconvictos de crença? -, como são ainda o auto-retrato fiel do poeta moderno, de perfil aliás muito mallarmeano, magnificamente resumido no «inútil protesto / de utilíssimo nada».
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VII)
O sentido é revisitação ou uma selva dentro da selva ou por que é que o cérebro não explica a arte ou só a explica parcialmente
 Um dos aspectos mais interessantes das chamadas neurociências cognitivas contemporâneas prende-se com a relevância que aí assume uma imagem do cérebro enquanto estrutura dotada de uma complexidade e de uma plasticidade extraordinárias.
Um dos aspectos mais interessantes das chamadas neurociências cognitivas contemporâneas prende-se com a relevância que aí assume uma imagem do cérebro enquanto estrutura dotada de uma complexidade e de uma plasticidade extraordinárias.
A arte pode ser pensada frutuosamente como um aspecto da cognição humana, isto é, como algo que resulta de um processo multiforme de aquisição de conhecimento, e, nesse sentido, como algo que radica em processos que poderíamos descrever como mentais.
O problema começa talvez aqui.
A minha tese é a de que sem cérebro não há mente (o que é, desde Thomas Willis e da «neurocentric age», uma evidência incontestável), mas que a mente não é o cérebro; penso, aliás, que não há consensos alargados sobre aquilo que a mente é, e de que forma é que podemos passar das ontologias na terceira pessoa para as ontologias na primeira pessoa, ou, de outro modo, da objectividade para a subjectividade, e vice versa. Estamos na fronteira, e toda a gente sabe como são as fronteiras que tornam a ciência fascinante, difícil, ou, de outro modo, de exercício quase improvável. Somos confrontados com aquilo que não sabemos, ou, eventualmente, com os limites do que sabemos.
De acordo com uma leitura wittgensteiniana do que se encontra aqui em causa, talvez estejamos perante um problema de linguagem ao dizermos que são os cérebros que pensam.
Wittgenstein ensinou-nos, como nenhum outro, a suspeitar da linguagem. As palavras podem trair-nos e levar-nos a olhar para certos problemas como problemas reais, quando eles não passam de puzzles que devem ser desmontados. Assim, se os estômagos não comem também é muito improvável que os cérebros pensem, ainda que, e volto a enfatizar este ponto, não possa haver pensamento (e todos os seus avatares: consciência, intenção, memória, etc.) sem cérebro.
Comentários Desativados em O sentido é revisitação ou uma selva dentro da selva ou por que é que o cérebro não explica a arte ou só a explica parcialmente
Sobre o prestígio de uma ideia
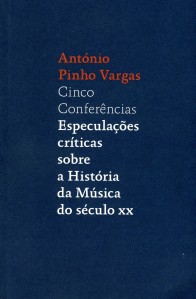
António Pinho Vargas começou como pianista, entre o jazz de inspiração free dos anos 60-70, o jazz-rock do mesmo período, e algumas colaborações pontuais na cena pop-rock. Depois evoluiu para uma formação e uma versão de câmara do jazz moderno, algo próxima da chamada sonoridade ECM, reconhecível pela riqueza melódica, singeleza harmónica (neste livro, o autor explica a sua recusa, nessa fase, das «extensões harmónicas» típicas do jazz) e contenção improvisativa, tendo gravado uma série de discos com bom acolhimento público, vários deles premiados. A certa altura, passou para o campo da «música contemporânea», na qual foi praticando e defendendo posições «eclécticas», mas sempre com uma referência matricial à questão da atonalidade. Compôs, entre várias peças, algumas delas editadas em disco, três óperas, uma ainda muito recente e com excelente acolhimento crítico. Este livro, que é o segundo do autor, que entretanto se tornou também professor e assessor nas mais importantes instituições da vida musical do país, membro da direcção da OrchestrUtopica e, ultimamente, investigador do CES, reúne 5 conferências realizadas na Culturgest em 2005, explicadas por um subtítulo muito justo: «Especulações críticas sobre a História da Música do século XX».
O registo do volume é oral e digressivo, não raro humorado e irónico, o tom é didáctico e muito apoiado em textos e excertos de peças musicais, o desenvolvimento dos argumentos e a composição das conferências são mais nítidos e performativos nas conferências iniciais e vão-se tornando algo mais derivativos nas finais, talvez por ao longo do livro ir crescendo uma certa crispação pessimista em torno do legado da música do século XX e da sua situação actual. Não surpreende, uma vez que a música do Século XX – a Nova Música de que falava o filósofo e musicólogo alemão Adorno – é uma questão em aberto e em ferida: sem comunicação, sem público, sem um futuro que se possa rever no essencial da sua matriz e do seu legado, condenada, enfim, a ser eternamente Nova, ou seja, nunca efectivamente popular. De Adorno, Pinho Vargas refere, logo a abrir, A Filosofia da Nova Música e a sua encenação do combate entre Schoenberg, ou o progresso, e Stravinsky, ou a restauração (a reacção, melhor dito). Mas não resiste a citar, logo na p. 20, a frase inicial da sua Teoria Estética, já postumamente editada em 1970, que também não resisto a retomar: «Tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua relação ao todo, e até mesmo o seu direito à existência». É caso para dizer que, assim como a Filosofia da Nova Música é de facto a grande teoria estética do modernismo em todas as artes, a frase que abre a Teoria Estética aplica-se à música antes e acima de todas as outras artes, pois em nenhuma delas as consequências do modernismo foram tão radicais e, aparentemente, irreversíveis ou, se se preferir, danosas – desde logo porque tais consequências parecem funcionar, como que por necessidade, numa teleonomia que se diria inquebrável.
Comentários Desativados em Sobre o prestígio de uma ideia
London, por Borges
 O presente volume pode ser uma de três coisas, a saber: uma excelente introdução à obra de Jack London, uma aproximação à constelação literária de Jorge Luis Borges, e um contacto (também ele sensorial e físico) com uma das colecções mais fascinantes de literatura do século XX.
O presente volume pode ser uma de três coisas, a saber: uma excelente introdução à obra de Jack London, uma aproximação à constelação literária de Jorge Luis Borges, e um contacto (também ele sensorial e físico) com uma das colecções mais fascinantes de literatura do século XX.
É um modo feliz de nos aproximarmos do trabalho literário de Jack London (1876-1916), autor americano de grande popularidade (foi um dos primeiros escritores americanos a fazer fortuna com a escrita) no seu tempo, e que é justamente considerado um dos brilhantes mestres da narrativa, e em particular do conto.
Borges reviu-se evidentemente em London, e esta colecção de A Biblioteca de Babel, espelha-o. O livro contém seis contos de London, de onde sobressai uma afirmação da literatura enquanto narrativa que Gustavo Rubim, numa notável recensão no Público, identificou como sendo um trabalho que foge habilmente às derivas da interpretação, e onde os acontecimentos dominam o fluxo textual. Escreve Rubim: «[M]as a mestria de London não está no modo como ergue ou insinua uma visão do mundo; está no modo como põe a narrativa acima do sentido, num jogo de esquiva às interpretações» (Ípsilon, 6 de Fevereiro, p. 29).
Trata-se de uma colecção que Borges dirigiu, seleccionando todos os volumes que a compõem, e prefaciando-os com ensaios seus sobre cada um dos autores escolhidos. É interessante verificar como o grande escritor argentino faz aí ombrear clássicos, como Edgar Allan Poe e Henry James, com escritores relativamente obscuros ou mesmo esquecidos hoje, destacando-se, entre outros, Gustav Meyrink e Arthur Machen.
sobre cada um dos autores escolhidos. É interessante verificar como o grande escritor argentino faz aí ombrear clássicos, como Edgar Allan Poe e Henry James, com escritores relativamente obscuros ou mesmo esquecidos hoje, destacando-se, entre outros, Gustav Meyrink e Arthur Machen.
Esta colecção revela não apenas as predilecções de Borges (uma grande parte vai para autores de língua inglesa), sendo, neste sentido, um modo de acedermos aos seus mestres, mas também a importância capital que o livro – enquanto objecto dotado de valências estéticas (e metafísicas) óbvias – detém no seu imaginário e na própria ideia que temos de literatura.
Neste sentido, importa referir que é o produto de um encontro entre o editor Franco Maria Ricci e Borges, himself, em que o primeiro propôs ao segundo a direcção de uma colecção de obras fantásticas que só podia chamar-se A Biblioteca de Babel. Os livros são belíssimos (como era próprio de Ricci), e a edição da Presença respeita escrupulosamente o grafismo original. (Creio que há uns anos atrás a Vega tentou trazer esta colecção para Portugal, ou copiá-la, com resultados desastrosos em termos gráficos, diga-se).
As traduções são cuidadas. Recomenda-se, pois, vivamente. (Tradução de Maria João da Rocha Afonso).
Jack London (2009) A Mão de Midas, Editorial Presença (colecção A Biblioteca de Babel, dirigida por Jorge Luis Borges). [ISBN: 978-972-23-4069-4]
Comentários Desativados em London, por Borges
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (V)
O que é, em Corvo, essa programática (e problemática) «retórica da terra»? Nada menos, para começar, e para começarmos pelo poema que tal expressão convoca, do que uma ars oblivionis, cumprida com o zelo que se vota aos impossíveis:
Cumprimos com zelo
a tarefa de esquecer a terra
até que surpreendidos por camélias
num quintal abandonado
escrevemos livros onde lembramos
a terra que esquecemos
e de tal sorte escritos
morremos.
Os versos parecem propor a reversibilidade de amnésia e anamnese: a camélia no «quintal abandonado» reintroduz no sistema a memória que pela escrita se eleva a algo assim como um imperativo. O correlato objectivo da memória recuperada que é a camélia é porém tão performativamente contraditório como o livro: ambos ratificam, por «surpresa» ou vanidade, a distância infranqueável da terra – essa entidade só convocável afinal por uma retórica – e são por isso, cada um à sua maneira, assinaturas (e tatuagens) de uma mão inútil.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (V)
Sobre um livro sobre o livro
No prefácio das autoras ao seu Dicionário do Livro: Da escrita ao livro electrónico fica claro um dos problemas do livro – não deste livro em particular, mas do próprio conceito e forma que designamos pela palavra ‘livro’. Confrontadas com a vastidão do tema e com a natureza, em última análise, arbitrária das categorias que temos de usar para classificar o mundo – ainda quando esse mundo é o mundo aparentemente determinável e ordenável do léxico bibliográfico -, Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão tentam explicitar as múltiplas racionalidades com que o vocabulário do livro se constelou nas cerca de 25000 entradas (sim, 25000!, não é gralha) que integram esta opus magnum. Por exemplo:
«[…] pretendemos registar os termos do passado que, pouco a pouco, foram sendo abandonados; fazê-lo em simultâneo com a terminologia a que chamaremos de ponta, que as novas tecnologias da comunicação aplicadas à informação trouxeram consigo. Pretendemos também conservar na língua portuguesa algum vocabulário cujo desaparecimento tende a verificar-se com o advento e a imposição de novas técnicas.» (p. 7)
«A terminologia que a obra contempla pretende ser a mais característica de ciências e/ou disciplinas como história da escrita e sua natureza (paleografia, diplomática, filologia), sigilografia (importância documental orgânica do selo), bibliografia, história do livro, biblioteconomia, codicologia, novas tecnologias ao serviço da informação (informática e ciência do audiovisual), sociologia da informação – suas incidências e problemáticas sociais, ciências físico-químicas (no que respeita a problemas e técnicas de conservação dos suportes de escrita e seu restauro) e novas questões da ciência da informação, indústria da informação, gestão de documentos e gestão da informação.» (p. 9)
Esta dificuldade em circunscrever a terminologia a incluir não decorre apenas da intenção de combinar organização sincrónica e diacrónica, dando conta de momentos históricos significativos através da terminologia específica de certas épocas e tecnologias. Decorre também da participação do livro em inúmeros processos sociais e culturais, e das consequentes associações semânticas que expandem o vocabulário do livro para múltiplos contextos de produção, transmissão e recepção. E decorre ainda de uma intensa proliferação lexical nas três últimas décadas – em muitos casos através da importação de palavras e expressões em inglês – originada pela acelerada transição da cultura impressa para a cultura digital, que reconfigura a materialidade do livro. Por causa deste processo, milhares de novos termos oriundos da linguagem das aplicações e das redes informáticas passaram a fazer parte do vocabulário do livro. O efeito combinado destes três factores parece tornar vã qualquer tentativa de saber exactamente o que constitui um abecedário do livro num horizonte que se estende do manuscrito ao electrónico.
Comentários Desativados em Sobre um livro sobre o livro
Barba Azul, Papão e Companhia

Barba Azul, Papão e Companhia, apesar de ser uma obra de meados dos anos 80, foi agora editado pela primeira vez em Dezembro de 2008 pela Cavalo de Ferro, numa tradução de Ana Paiva Morais. É um livro de contos, dezassete breves histórias de Eric Jourdan acompanhadas por dezassete ilustrações inéditas de Paula Rego. Este livro resulta de uma colaboração entre a pintora e o escritor que resolvem remexer o mundo da literatura infantil. Quem tem crianças em casa, ou simplesmente se interessa por literatura infantil de certeza que já se deparou com o problema de encontrar histórias que sejam minimamente interessantes. Apesar de não ser nada uma especialista no campo, acontece-me sempre comprar livros que contam histórias melosas e aborrecidas da “avó Bita” que faz bolinhos quentinhos e do “Joãozinho” que não gostava de sopa e depois já gosta… Em suma… uma chatice. (more…)
Comentários Desativados em Barba Azul, Papão e Companhia
Página 161?
Rui Bebiano, um dos meus generosos hospedeiros neste blogue – um Professor Doutor por Coimbra, meu Deus! -, insta-me a entrar num desafio em cadeia, um desses cujas razões desafiam a Razão, mormente a minha, sempre tão exausta. Trata-se de ir ao livro que se anda a ler e transcrever, da p. 161, a linha 5, confiando em que ela há-de fazer o sentido que as coisas díspares fatalmente fazem, pelo menos desde o Sr. Breton. O desafio, hélas!, pressupõe livros acima de 160 pp., o que é raramente o caso comigo, agora que já li os clássicos que os meus mestres, na sua clarividência, me aconselharam. E assim é também nesta ocasião, uma vez que o livro que ando a ler, e que é este (muito bem traduzido por um outro Professor Doutor por Coimbra, santos deuses!) se fica pelas 104 pp., nelas já incluídas aquelas finais, em branco, que o número par das páginas de cada caderno tantas vezes exige… A minha linha 5 da p. 161 encontra-se pois no limbo e é essa a contribuição que, sem esperar qualquer retribuição, dou a quem, de modo inopinado e sempre hospitaleiro, convidou a insignificância do meu nome para esta dança: o limbo da página para lá do colofon como esse lugar em que todos os livros resgatam a sua existência inecessária.
Comentários Desativados em Página 161?
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (IV)
Talvez não seja necessário fazer disto um elogio da coerência interna da obra de Rui Lage, mas é difícil não reconhecer, em alguns poemas de Revólver, o anúncio, se não o programa, de Corvo. Refiro-me à secção III do livro, «Caça Furtiva», e ao poema que a abre, «Mad Max», um «filme de percurso» enunciado no dístico inicial: «Farei o caminho que leva / da cidade à floresta». A cidade é aqui a marcada pelo subúrbio e pela conurbação, numa sucessão de paisagens que diríamos ballardianas – «Altares de sucata, retábulos de pneus / carros com simpósios de heras e rosas» -, não se desse o caso de a descrição ser ainda comandada pelos códigos do «realismo social» que prescrevem um sentido político a um ponto de partida muito situado: «o caminho que começa / em bairros sociais».
O sentido vai-se porém perdendo no percurso, que desemboca em «pinhais duvidosos» e na paisagem de uma continuada perda de referências: «porque parti de sítio nenhum / (parti, por exemplo, de ti) / com imensa saudade / da cidade que esqueci.» O poema seguinte, «Hominídeos (ode ao Vale do Rift)», desloca o «filme de percurso» para a filogénese, concluindo, após o espectáculo terminal do «longínquo temor das coisas longínquas / no ecrã que faz dançar o sofá / com estranha luz de plasma e alta definição», que
Morreremos sem pisar de novo
a terra firme da savana.
Esqueceremos Lucy, seus frágeis,
ternos ossos,
esqueceremos também o apelido
do pai, Leakey,
e onde quer que nos deitemos
estaremos sempre muito longe de casa.
Os últimos dois versos são uma herança do drama ontológico da grande poesia moderna portuguesa, entre Pessoa e Belo, mas a forma como Lage alarga o panorama da moderna perda do Ser, enquadrando-a na hominização, transfere a crise da metafísica para o quadro pós-humanista (e pós-moderno) do parque humano. A «terra firme» desaparece e, na sua vez, surge uma ecologia assegurada por uma série de hipertécnicas que fazem vacilar justamente o nosso nicho ecológico ou «sofá»: o ecrã de plasma, o modo pontilhista da imagem televisiva, dizem agora a nossa condição, não apenas ontológica mas também tecnologicamente evanescente (é difícil não pensar no filme que resume genialmente toda esta fenomenologia: Poltergeist, de Tobe Hooper).
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (IV)
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (III)
Rui Lage expõe os problemas do seu projecto neste livro num poema magnífico, intitulado «Auto da Horta Destruída». O poeta, como a cultura portuguesa a que pertence, está dividido entre uma herança miserável – «Que triste, país, é a moral / da fábula campestre / que longos séculos nos deste / a ler» -, a sua recodificação tardocapitalista – «o teu luto / dá pelo nome de turismo rural» – e o destino litorâneo e surfista da nação, «obesa / prancha ocidental». O poema abre com um verso que é, nem de propósito, um espécime que diríamos revisionista: não custa imaginar que, sem as vírgulas, ou seja, reescrito assim – «Que triste país é a moral» -, este pudesse ser um verso de Joaquim Manuel Magalhães e da linha de revindicação ético-política que dele provém (ou de uma utilização expansiva do ético-moral que o faz mesmo coincidir com o político, numa linha muito «setentista» e foucaldiana), na poesia portuguesa contemporânea. A «versão» de Rui Lage recupera a possibilidade de um endereçamento positivo a uma entidade colectiva de que a geração, ou melhor, o «grupo» de JMM, desistira, quer por ter passado a um uso tropado de «país» como «moral» – maioritária, repressiva, etc. –, quer por, em função dessa desistência, ter optado por endereçamentos a entidades parcelares, numa tradução da hysteresis contemporânea das identidades.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (III)
Da leitura como perdição

O caminho para a perdição pode ser um qualquer que queiramos, se a isso nos for dada escolha. Pode ser o que seguimos a torto ou a direito, que no fim não sabemos nunca onde vamos dar. Em Caminho para Perdição, de Sam Mendes, são muitos os caminhos que se cruzam sem o fim que seja o deles, nem o de quem os escolheu percorrer. Ao contrário de que sempre assumimos como risível dado adquirido e risível, e que o é apenas de vez em quando, um caminho pode ser isso mesmo que é ou tão somente o caminho que há e mais nenhum a caminho de nada que seja o suficiente do que é em si, ou um outro ainda, que se percorre sem se percorrer para se dizer do lugar das coisas e do que elas aparentemente são sem o serem e sendo-o ante o que quisermos que seja. Em Caminho para Perdição, ensaia-se o que em perspectiva, esta que em cima se adianta, carece de formulação explícita no filme para que assim se simule e se afirme enquanto manobra de actuação e intervenção. Há por isso, e para que se efective essa possibilidade de denúncia do que é para então se ser de um outro modo, dois caminhos que se percorrem ao contrário e que se completam do fim para o princípio, no princípio que com o fim é o que começa, no fim quando percebemos que a perdição, no que é de génese e conceito variável, ou sempre o mesmo, poderá ser o princípio de todas as coisas, independentemente do que queiramos: salvar-nos ou perder-nos.
Comentários Desativados em Da leitura como perdição
Amor líquido

When i fall behind in the quest for pleasure
I shall treasure this short time with you
“Timewatching”, do álbum Liberation dos Divine Comedy.
Numa recente viagem de avião, folheando a revista oferecida pela companhia aérea, entre vários artigos dedicados ao “mês de São Valentim”, atentei num sobre os novos serviços de dating através da internet. Segundo o director de uma destas empresas de relacionamentos, parece que é nos países mais desenvolvidos economicamente que os clientes apresentam mais queixas sobre a relação entre a qualidade do “produto” e o tempo dispendido a procurá-lo. Pagam para encontrar o amor depressa e, se tal não sucede, reclamam. A singularidade desta reportagem provém do facto de não constituir, como as outras da revista – quase todas publicidade a destinos de viagem mascarados de “românticos” e todos situados na rota da referida companhia aérea – um apelo ao consumo de um produto em nome do amor, mas de expressar um entendimento do próprio amor como objecto de consumo. Ocorreu-me logo a canção de António Variações, um grito que vem do que em nós ainda é humano: “Não me consumas!”.
Para uma reflexão sobre a relação do consumidor, que todos somos, com o amor, sugiro a leitura de Amor Líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos de Zygmunt Bauman. O amor como produto de consumo rápido, em série, descartável, que faz de todos nós isso mesmo: produtos consumidos em série, descartáveis. A salvação, segundo Bauman, passará pelo regresso ao compromisso e à permanência nos relacionamentos, apresentada como a única possibilidade de resistência do indivíduo contra o império da fragilidade neste mundo liquido, de empregos e amores flexíveis e em part-time:
(…) libertar o sexo da soberania da racionalidade do consumidor (…) que essa racionalidade seja destituída da sua actual soberania sobre os motivos e estratégias da política da vida humana.” (pag.70)
Comentários Desativados em Amor líquido
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (II)
Sobre os caminhos tortuosos da fidelidade, muito haveria porém a dizer a propósito deste livro. Uma nota apenas, por agora: o livro vem acompanhado de uma «Playlist» – «39 temas para 39 poemas» -, que é difícil não contrastar com o poema «Música Portuguesa (Best Portuguese Act)» do anterior Revólver (2006), ominosamente dedicado, entre outros, a João Aguardela. Nele podemos ler, na estrofe central:
A rádio toca lá dentro música barata,
ninguém o desliga, porém,
e deixamos poluir os ouvidos
com anglo-saxónicos acentos
saídos de parolas, provincianas,
extasiadas gargantas portuguesas
(tigres lendários com que Blake
nem sonhava).
A Playlist de Corvo, porém, oferece apenas 7 temas de música portuguesa (pop, tradicional, clássica e contemporânea) entre 39, distribuídos pela pop, que domina, e a clássica e contemporânea, sendo que quem de facto domina é a indústria anglo-americana. Ou seja, este corvo que é, na origem, Raven, não pressupõe a fidelidade idiomático-musical que faria coincidir expressivamente território, sujeito colectivo, língua-materna e neo-realismo mimético. Pelo contrário, na medida em que propõe para banda sonora um constructo que oscila entre o internacional e o cosmopolita, desloca a questão da fidelidade, de um só golpe, para um outro plano que não o de uma «estética orgânica», tal como se tende sempre a pensar as questões da representação, a partir do momento em que elas são de algum modo territorializadas – desloca-o, digamos, para aquela «conformidade rítmica com o original» (e só isso, que aliás é muito) que Pessoa declarava como critério da sua tradução de The Raven, de Poe.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (II)
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (I)

Uma certa visão da nossa cena poética como estruturada em posições muito marcadas e mais ou menos antagónicas, com papéis distribuídos por actores muito conscientes deles, tem como consequência que um livro tão importante para a poesia portuguesa actual como este Corvo, de Rui Lage, que não tem um lugar nítido nessa lógica distribucional, tenha sido objecto, até ao momento, e tanto quanto me é dado perceber, de um silêncio unânime. Ao seu quarto título, Rui Lage escreveu um livro que fazia falta à poesia, à literatura e ao país que neste momento somos, pois o seu objecto e propósito é, digamos, «escrever um livro sobre Trás-os-Montes» ou, se se preferir, «escrever Trás-os-Montes» em verso, como se declara na epígrafe inicial: «Para os transmontanos que sobreviveram ao deserto e para aqueles que não lhe puderam resistir».
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (I)
Os irmão siameses

Com “O nosso século é fascista!” O mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945), Manuel Loff demonstra, com argumentos tão sólidos e tão pesados como as nove centenas e meia de páginas que constituem o livro, que, até ao triunfo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, os dois ditadores peninsulares estiveram plenamente empenhados na construção da “Nova Ordem” almejada pelo fascismo italiano e pelo nacional-socialismo alemão. Trata-se de uma adaptação da sua tese de doutoramento realizado no Instituto Universitário Europeu, de Florença.
Professor da Universidade do Porto, Manuel Loff é, sem qualquer dúvida, um dos maiores especialistas na história das ditaduras ibéricas novecentistas, tendo já publicado em 1996 o livro intitulado Salazarismo e Franquismo na época de Hitler. Para breve, fica a promessa de um outro volume extraído da parte final da sua tese de doutoramento sobre “racismo, anti-semitismo e percepção/conhecimento do Holocausto no Salazarismo e no Franquismo até 1945”.
A “coisa” promete!
Manuel Loff (2008), “O nosso século é fascista!” O mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945), Porto, Campo das Letras, [ISBN: 978-989-625-256-4]
Comentários Desativados em Os irmão siameses
Música azul
 Este é um livro do singularíssimo Oliver Sacks, o mesmo que nos trouxe, desde o seu The Man Who Mistook his Wife for a Hat (1985), a possibilidade de nos confrontarmos com a dimensão literária dos «estudos de caso» em ciência. É verdade que a prática de estudos de caso é comum em ciência desde longa data, mas foram poucos, e são poucos ainda hoje, os cientistas que nos conduzem, justamente, para o facto de se tratar de um dos lugares de eleição em que literatura e ciência se cruzaram e cruzam de um modo existencial e estilisticamente significativo.
Este é um livro do singularíssimo Oliver Sacks, o mesmo que nos trouxe, desde o seu The Man Who Mistook his Wife for a Hat (1985), a possibilidade de nos confrontarmos com a dimensão literária dos «estudos de caso» em ciência. É verdade que a prática de estudos de caso é comum em ciência desde longa data, mas foram poucos, e são poucos ainda hoje, os cientistas que nos conduzem, justamente, para o facto de se tratar de um dos lugares de eleição em que literatura e ciência se cruzaram e cruzam de um modo existencial e estilisticamente significativo.
Sacks contribuiu, sem margem para dúvidas, para a disponibilidade que existe hoje no mercado livreiro (sobretudo no mundo anglo-saxónico) para este tipo de trabalhos em que as histórias clínicas servem de mote para explicitar um drama existencial e, ao mesmo tempo, para nos elucidar acerca de um problema científico. Em grande medida, uma parte considerável da popularidade do notável neurocientista português António Damásio prende-se com isto também. Pena é que ainda se não tenha descoberto o manancial de histórias que, por exemplo, a antropologia contém, visto tratar-se porventura de uma das ciências que mais desenvolveu metodologicamente a prática dos estudos de caso.
Bem, mas regressemos a Sacks, ao justamente famoso Sacks. Neste seu livro, Musicofilia, o neurologista inglês sediado nos Estados Unidos, traz-nos um conjunto de históricas clínicas que nos permitem compreender a extraordinária relação entre a música e o cérebro. Os estudos clínicos aqui apresentados são de dimensão e alcance desigual. Vão de histórias que nos contam como pode uma canção ficar colada à mente numa espécie de loop contínuo, a outras que nos parecerão verdadeiramente insólitas: pacientes com doenças degenerativas cujos sintomas recuam através do seu contacto com a música, homens adultos que apanhados por um relâmpago desenvolvem um gosto obsessivo por música para piano, chegando a conseguir atingir um significativo domínio do instrumento, maestros que são atacados por estranhas formas de amnésia que os fazem tudo esquecer, menos a sua capacidade para dirigir e cantar, etc.
Gosto particularmente da parte acerca das sinestesias. Escreve Sacks:
De todas as formas diferentes de sinestesia, a sinestesia musical – principalmente efeitos de cor experimentados enquanto ouvimos ou pensamos em música – é uma das mais comuns, e provavelmente a mais dramática. Desconhecemos se é mais comum em músicos ou pessoas musicais, mas claro que é mais provável que os músicos tenham maior consciência dela, e muitas das pessoas que ultimamente me descreveram as suas sinestesias musicais são músicos. // O famoso compositor contemporâneo Michael Torke tem sido profundamente influenciado por experiências com música colorida. Torke revelou talentos musicais notáveis numa idade precoce e com cinco anos deram-lhe um piano, e uma professora de piano. «Já era compositor aos cinco anos», diz – a professora dividia as peças em secções e Michael rearranjava as secções em ordens diferentes enquanto tocava. // Um dia comentou com a professora, «Adoro aquela peça azul.» // A sua professora não tinha a certeza de ter ouvido bem: «Azul?» // «Sim», disse Michael, «a peça em Ré maior […] Ré maior é azul.» // «Para mim não», respondeu a professora. Estava intrigada e o Michael também, pois ele assumia que toda a gente via cores associadas a claves musicais. Quando começou a perceber que nem todos partilhavam desta sinestesia, teve dificuldade em imaginar como isso seria, pensando que era equivalente a «uma espécie de cegueira» (pp. 171-172).
As «vogais» de Rimbaud têm afinal um correlato neurológico.
Sacks, Oliver, Musicofilia: Histórias Sobre a Música e o Cérebro, Lisboa, Relógio d’ Água, 371 pp., 2008 [ISBN 978-972-708-997-0]
Comentários Desativados em Música azul
O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo

José Reis, professor de Filosofia na Universidade de Coimbra, lançou recentemente, nas Edições Afrontamento, O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo. Este é um livro muito interessante mas que me deixou algumas dúvidas. O autor sugere que, como diz na contra capa: “o prazer e a dor são, em todas as suas relações e modalidades, físicas e psicológicas, a única coisa que move o homem”. Uma afirmação forte, e para a provar José Reis pega em duas éticas aparentemente díspares, a de Aristóteles e a de Kant, e tenta mostrar como na verdade ambas funcionam sob a mesma base, a mesma essência: o prazer e a dor. Assim como também a religião. Segundo o autor tudo, e digo bem, “Tudo está aí, doravante, ao alcance da mão. E ainda por cima, como se vê, tudo isto não é uma teoria mas a simples descrição dos factos que nos constituem”. É logo este tom excessivamente assertivo que me faz desconfiar. Continuo ainda a preferir a tríplice de Feuerbach “Amor, Razão e Vontade”. E o Amor pode ser, justamente, o elemento que desconstrói a teoria de que o homem é movido exclusivamente pela repulsa à dor e a atracção pelo prazer. Um dia Roland Barthes disse que a dor de um amante abandonado era semelhante ao martírio de um homem num campo de concentração. Foi muito criticado por isto. Mas admitindo que a dor na relação amorosa pode, de facto, ser avassaladora, não deixa de ser curioso observar como o ser humano, quando abandonado, em vez de fugir da dor, procurando esquecer aquele que lhe faz doer, pelo contrário, o procura e deseja talvez com mais força, tantas vezes se deixando sucumbir. No entanto, este continua a ser um livro que suscita debate, nos faz pensar em nós, nas nossas acções, no seu porquê. E por isso é um livro que recomendo.
José Reis (2008), O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo. Santa Maria da Feira: Edições Afrontamento. 99 pp. [ISBN: 978-972-36-0974-5]
Comentários Desativados em O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo
A Invenção do Cinema Português

Também das edições Tinta da China chega-nos A Invenção do Cinema Português. Este livro, apesar de o poder parecer, num primeiro olhar rápido, não é um mero catálogo de fotografias e sinopses de filmes, de escolhas avulsas de algum modo espectáveis. O autor, Tiago Batista, consegue estabelecer uma excelente ligação histórica e de afinidade que ajuda a entender os diferentes momentos a que os filmes se referem e, através deles, a evolução operada no cinema em Portugal.
O livro começa com uma ideia que joga com a famosa e irónica afirmação de Bénard da Costa “O cinema português nunca existiu”, ao afirmar justamente o oposto: “O cinema português sempre existiu”. Não tanto o cinema feito em Portugal, mas refere-se o autor a uma cinematografia nacional. Uma procura de “portugalidade” que todos os cineastas portugueses, até meados da década de 90, de algum modo impuseram a si mesmos, e que acabou por se colar a eles. A crítica, especialmente a estrangeira, terá contribuído para a construção de um estereótipo a que se chamou “escola portuguesa” e que tanto serviu para unir como para separar filmes e realizadores.
Mesmo tendo consciência de que não era esse o objectivo de Tiago Batista com este livro, ao acabar de ler A Invenção do Cinema Português é impossível não sentir que continuamos a precisar de uma obra que seja, de facto, uma história do cinema português (ou do cinema em Portugal, uma vez que a expressão pode ser ambígua). Uma obra mais sistemática. E isso nota-se, desde logo, na própria bibliografia indicada neste livro, composta maioritariamente por artigos dispersos em livros ou em revistas, uma edição de 1986 da História do Cinema Português, de Luís de Pina – que precisa, naturalmente, de ser revista e aumentada.
Tiago Batista (2008), A Invenção do Cinema Português. Lisboa: Tinta da China. 231 pp. [ISBN: 978-972-8955-84-7]
Comentários Desativados em A Invenção do Cinema Português
Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?

Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?, das edições Tinta da China, é um trabalho de grande qualidade e profissionalismo. Como diz na apresentação do livro o seu autor, Luís Trindade, é impossível ter uma ideia de quantos anúncios foram feitos na história da publicidade. Neste livro restringe-se o campo de observação a um espaço, Portugal, a um tempo, o século XX, e a um suporte, as publicações periódicas. Ainda assim o material permanece imenso. Os anúncios estão de tal modo presentes, para não dizer omnipresentes, na nossa vida, na nossa sociedade, que se torna impossível escapar à sua influência. E, ao mesmo tempo, a sua natureza é intrinsecamente volátil, passageira. As escolhas que compõem o livro são por isso muito importantes e muito difíceis.
Luís Trindade, professor de Estudos Portugueses na Universidade de Londres e investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, conhece muito bem o campo das publicações periódicas em Portugal. Tem vários títulos publicados nesta área, entre os quais destaco o recente Primeiras Páginas. O Século XX nos Jornais Portugueses (2006, Edições Tinta da China). Ao contrário deste último, em Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade? Luís Trindade opta por seguir uma organização não cronológica, juntando anúncios de 1905 ao lado de anúncios dos anos 80 ou 90. A mulher e a máquina são os temas mais representados nos anúncios e servem de leitmotiv nesta narrativa que o autor tenta construir sobre a história da publicidade em Portugal, que é também uma história de Portugal.
Comentários Desativados em Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?




Comentários Desativados em Leituras estivais: Kleist (I)