30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)
Significa isto que é difícil fazer a crítica de uma banda tão «representativa» sem, de algum modo, incorrer na crítica de toda a situação por ela representada. O livro de ACF informa-nos, por exemplo, de que no dia 8 de Maio de 1987, data do lendário concerto dos Xutos no pavilhão de Os Belenenses, a banda recebeu um telegrama de Rui Reininho que rezava apenas «Avante camaradas». Não custa ver neste incitamento irónico o reconhecimento não irónico de que muito do futuro do rock em Portugal passava, como depois se tornou visível, por esse concerto, ou por tudo o que nele tornou os Xutos maiores do que eles mesmos, conduzindo-os àquele lugar, aquém e além da crítica, que é próprio dos mitos (ou, o que é o mesmo na modernidade, das locomotivas).
O que faz também do livro de ACF um acontecimento no panorama pobre da nossa escrita rock é o facto de a autora ter intuído, com rara penetração, o predomínio da voz sobre a letra na cultura rock (ou na auto-representação que esta de si mesma produz). O livro, seguindo uma tradição forte no campo da escrita de livros de percurso de bandas rock, é construído como uma montagem de depoimentos, graficamente assinalados pelo itálico que se segue ao nome do depoente. O espaço preenchido pelos caracteres em redondo, atribuídos à (voz) escrita da autora, reduz-se significativamente e o leitor é tomado de assalto por toda a ilusão de presença cara à física e metafísica do rock – a performance pura e plena («autêntica»), sem qualquer mediação, isto é, o triunfo do corpo suado e, tantas vezes, tendendo ao nu – ou, noutro vocabulário teórico, mais aristotélico, pelo predomínio esmagador do showing sobre o telling, tão típico de formas de literatura de massas como o romance policial ou a FC, em que o diálogo abafa a narração e, mais ainda, a descrição, acelerando a leitura até à vertigem.
O que daqui resulta é, tecnicamente, «história oral», e, musicalmente, escrita rock, no sentido em que esta vive da produção de uma série de efeitos de auto-anulação da sua dimensão escritural em favor da manifestação forte da voz, uma voz que seria, idealmente, sem filtro e sem excessos de «produção». Vozes «cruas», como determinou, para as guitarras dos Xutos no seu primeiro disco, o radialista António Sérgio, promovido a produtor.
O Chekhov dos subúrbios
 Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.
Num registo diverso, gostaria de destacar a publicação recente deste magnífico volume de contos (a que se anuncia um segundo volume) de John Cheever. Cheever nasceu a 27 de Maio de 1912 e faleceu a 18 de Junho de 1982. Trata-se de um dos grandes escritores norte-americanos de contos do século XX, só comparável a Sherwood Anderson, Hemingway, ou, mais recentemente, a Raymond Carver.
Cheever é por vezes apelidado como «o Chekhov dos subúrbios», e podemos encontrar neste volume reunidas algumas das suas histórias mais conhecidas, entre as quais se encontram «Adeus, meu irmão», «O rádio enorme», «O comboio das cinco e quarenta e oito» e «O marido do campo».
Convém talvez acrescentar que os contos reunidos de Cheever obtiveram o Prémio Pulitzer de 1979 para ficção. (Tradução segura de José Lima).
John Cheever. Contos completos I, Lisboa, Sextante. [ISBN: 978-989-8093-87-5]
Comentários Desativados em O Chekhov dos subúrbios
Darwin rules
 Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.
Nos 200 anos do nascimento de Charles Darwin (nascido a 12 de Fevereiro de 1809) e nos 150 da publicação da Origem das espécies (24 de Novembro de 1859), a Esfera do Caos, uma editora que tem vindo a publicar excelente literatura de divulgação científica em Portugal, lança-se num projecto pioneiro sobre a grande constelação darwiniana de que são testemunho estes dois volumes, estando prometidos mais dois, Vida: origem e evolução e Homem: origem e evolução. A série, aliás, chama-se «Fundamentos e desafios do Evolucionismo», e vem colmatar uma enorme lacuna no espaço intelectual português que, em geral, ignora a importância de Darwin para o entendimento do que será porventura o nosso presente. Através destas páginas (que articulam textos clássicos traduzidos pela primeira vez com textos especialmente encomendados para o efeito) poderá eventualmente situar-se Darwin no contexto da modernidade.
Darwin é, a par de Freud e de Nietzsche, um dos pensadores que melhor emblematiza o legado intelectual, senão mesmo cognitivo, que é hoje o nosso.
André Levy et. al. Evolução: história e argumentos. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-55-5]
André Levy et al. Evolução: conceitos e debates. Lisboa, Esfera do Caos. [ISBN: 978-989-8025-75-3].
Comentários Desativados em Darwin rules
Uma espécie de vírus
 Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.
Este é, na minha opinião, um dos livros axiais da antropologia das últimas décadas. As razões são várias, e limitar-me-ei a invocar algumas.
Sperber é um antropólogo (que não enjeitou uma certa concepção de «natureza humana» cuja influência pós-estruturalista teria diluído) e um cientista cognitivo.
Para Sperber, as ideias ou «representações» são contagiosas.
Elas espalham-se numa população como se fossem vírus (a semelhança com a «memética» de Dawkins tem porém de ser matizada: enquanto que a mutação é regra nas representações, no caso dos vírus tal mutação é excepcional).
Este processo é dinâmico: pessoas, ecologia, e as próprias representações são transformados. Explicar a cultura é, para Sperber, descrever as causas e os efeitos deste contágio pelas representações. Sperber reconconceptualiza assim o domínio da cultura em termos de padrões ecológicos de fenómenos psicológicos, ou seja, em termos de uma «epidemiologia das representações». Não há aqui lugar para qualquer forma de «reducionismo» (ainda que se Sperber se recuse a demonizar aquilo a que se chama de reducionismo). A cultura é entendida como o resultado de um processo complexo que acontece numa recursividade permanente entre factores cognitivos e factores ecológicos. Para Sperber, a cultura é o «precipitado da cognição e da comunicação numa população humana» (p. 97).
Sperber tem coisas muitas sérias a dizer sobre a eficácia causal (e os perigos) das representações, mas não parece ter sido levado muito a sério pela maioria dos antropólogos e cientistas sociais contemporâneos, incapazes talvez de se aproximarem das propostas da ciência cognitiva contemporânea sem temerem o perigo de uma espécie de contágio conceptual naturalizador e cognitivista. A excepção será seguramente Harvey Whitehouse.
Comentários Desativados em Uma espécie de vírus
30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)
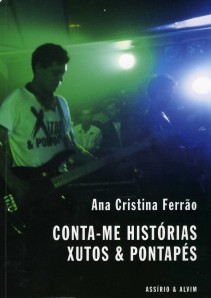
«Os Xutos são o povo. Os Xutos são as pessoas» (p. 254); «Xutos é Portugal» (p. 285); «Os Xutos tocam-nos» (p. 249): três frases, ou três máximas, reveladoras do impacto dos Xutos & Pontapés, entre as várias contidas no livro de Ana Cristina Ferrão (ACF), Conta-me Histórias. Xutos & Pontapés, recentemente reeditado, sendo apenas uma delas, a última, da lavra da autora.
Mas, 30 anos depois do brevíssimo concerto do dia 19 de Janeiro de 1979 nos Alunos de Apolo pela banda então chamada Xutos & Pontapés Rock’n’Roll Band, como significam hoje estas máximas? Desde logo, como significa, como funciona hoje, o livro de ACF, 18 anos após a sua 1ª edição? Para quem, como o autor desta resenha, entende que os Xutos duraram 10 anos – os anos dos grandes temas que são «Sémen», «Esquadrão da Morte», «1º de Agosto», «Barcos Gregos», «Homem do Leme», «Remar, Remar», «Não sou o único», «N’América» e alguns mais -, o livro de 1991 saiu na altura certa, criando aliás uma possível genealogia local para o «livro sobre banda rock» que não teve, como é manifesto, descendência à altura. Olhando aliás para trás desde este ano de 2009, o que nos fica do género é escasso e algo inconsequente. Penso nos dois casos mais óbvios – o livro de Luís Maio sobre os GNR, de 1989, e o de Vítor Junqueira sobre os Mão Morta, de 2004 -, muito diferentes entre si e que contudo revelam a mesma dificuldade: não conseguem gerir os problemas que os objectos que tratam lhes colocam, ao contrário do sucedido no livro de ACF na edição de 1991.
Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (I)
Melville ou o sublime

Será talvez o grande paradigma da ficção americana à sombra tutelar do qual se acolhem escritores tão diversos como Faulkner, Don Dellilo, Thomas Pynchon, ou John Barth.
O que não conhecíamos em português, até onde julgo saber, era o Melville poeta.
Esta lacuna está agora preenchida após estas traduções/versões de Mário Avelar publicadas na Assírio & Alvim. Os poemas de Melville reiteram um tema que é um dos seus tópicos mais inquietantes: a indiferença da natureza aos desígnios do humano. Isto pode ser ilustrado pelo poema magnífico que é «The berg (a dream)» / «O Icebergue (o sonho)», que é também um belo exemplo do que poderá ser a «estética do sublime». Deixo aqui a primeira estrofe (p. 55):
Vi um barco de porte marcial
(de flâmulas ao vento, engalanado)
Como por mera loucura dirigindo-se
Contra um impassível icebergue,
Sem o perturbar, embora o enfatuado barco se afundasse.
O impacto imensos cubos de gelo cair fez,
Soturnos, toneladas esmagando o convés;
Foi essa avalanche, apenas essa –
Nenhum outro movimento, o naufrágio apenas.
Herman Melville. Poemas, Assírio & Alvim. 2009, trad. de Mário Avelar [ISBN 978-972-37-1357-2].
Comentários Desativados em Melville ou o sublime
Irvine Welsh e a morte da literatura
 O romance de Irvine Welsh, originalmente publicado em 2002, é construído em torno de múltiplas vozes, vozes essas que são reconhecíveis após a leitura do célebre Trainspotting (1996), do qual é, aliás, uma sequela. Welsh é uma espécie de escritor picaresco e joyceano que escreve furiosa e polemicamente sobre a experiência contemporânea.
O romance de Irvine Welsh, originalmente publicado em 2002, é construído em torno de múltiplas vozes, vozes essas que são reconhecíveis após a leitura do célebre Trainspotting (1996), do qual é, aliás, uma sequela. Welsh é uma espécie de escritor picaresco e joyceano que escreve furiosa e polemicamente sobre a experiência contemporânea.
Um aspecto particularmente interessante prende-se com o uso dos diálogos e dos idiomas locais e de grupo que podemos descobrir aqui em registos diversos, entre os quais se destacam, evidentemente (para quem já conhece Welsh), as práticas e linguagens próprias de uma certa marginalidade/youth culture britânica, de que Welsh é, sem dúvida, um magnífico mitógrafo.
Ninguém há como Welsh para nos mostrar a «fala» dos seus protagonistas, com uma eficácia verdadeiramente estonteante e paródica. Talvez Welsh seja mesmo um dos mais interessantes émulos de Joyce, hoje.
O livro é, aliás, excelente para quem gosta de ver as possibildades literárias do calão a acontecerem na página.
Prefiro citar aqui, porém, o primeiro parágrafo do capítulo com o inefável título de «…punhetas mal batidas…». Aí Welsh mostra-nos através da voz de uma das suas personagens (Nikki), como a literatura já não é o que era, e como ela exige uma reconfiguração dos seus limites e temas:
«Cada vez que mudo de disciplina sinto-me mais fracassada. Contudo, a meu ver, os cursos académicos são como os homens; mesmo o mais fascinante só consegue cativar o nosso interesse durante algum tempo. Agora o Natal já passou e estou outra vez solteira. Mas o facto de mudar de disciplina não é tão angustiante como mudar de instituição pedagógica ou de cidade. Consolo-me por ter ficado na Universidade de Edimburgo um ano inteiro, bem, quase. Foi a Lauren que me convenceu a mudar de curso de literatura para estudos dos media e do cinema. A nova literatura é o cinema, disse ela, citando uma revista idiota qualquer. Como é óbvio, expliquei-lhe que não é nos livros nem no cinema que as pessoas hoje em dia aprendem alguma coisa sobre a narrativa, mas nos jogos de vídeo. Se realmente queremos ser radicais e modernos, devemos passar os nossos dias no salão de jogos do bairro a rivalizar com um monte de gajos anémicos, para garantir o teu lugar nas máquinas» (p. 35).
Irvine Welsh. Porno, Quetzal, 2009, trad. de Colin Ginks [ISBN 978-972-564-759-2].
Comentários Desativados em Irvine Welsh e a morte da literatura
Edgar Allan Poe sem intuição e sem acaso
 Poe é um dos portais da modernidade literária. Sem ele, outra seria a nossa percepção do que foram/são Baudelaire, Mallarmé, Eliot, Pessoa, etc. Sem ele, não teríamos muito provavelmente, o drama da emoção e da razão tal como o viveram e expressaram os modernos.
Poe é um dos portais da modernidade literária. Sem ele, outra seria a nossa percepção do que foram/são Baudelaire, Mallarmé, Eliot, Pessoa, etc. Sem ele, não teríamos muito provavelmente, o drama da emoção e da razão tal como o viveram e expressaram os modernos.
Nos duzentos anos sobre o seu nascimento (Poe nasceu a 19 de Janeiro de 1809 e faleceu a 7 de Outubro de 1849), o mais traduzido dos autores americanos em Portugal, tem nesta Obra Poética Completa uma das suas homenagens mais significaticas.
Poe foi talvez um dos primeiros poetas a explicitar uma poesia por vir, marcada pelos desígnios maiores da ciência. A diluição dos «enigmas» da natureza e do humano, a convivência com um mundo «desencantado», a urgência de recodificação através das lições do gelo que a ciência comportava e comporta inexorovelmente: tudo temas que a poesia de Poe articula de um modo constante, ao mesmo tempo que pretende aceder a um patamar de reinvenção formal da escrita onde se apela a uma exigência de «método» (que o célebre ensaio «A Filosofia da Composição» enuncia).
Esta tensão entre o desencantamento do mundo e a sua requalificação pode ser ilustrada através do poema «Soneto – À Ciência»: «Ciência, ó filha do Tempo Velho! / Que, de olhos coruscantes, tudo espreitas, / Por que rasgas ao poeta o amplo peito, / Abutre de asa rude que se engelha? Como te pode amar, crer-te avisada, / Que o não deixaste andar, errante, ao vento, / Buscando as jóias que há no firmamento / Ainda que o singrasse de asa ousada? / Diana escorraçaste da quadriga, / Do bosque a Hamadríade (fugindo / Ela a abrigar-se em estrela mais amiga), / À Náiade tiraste a onda cava, / Ao elfo o prado, e a mim o tamarindo / Em cuja sombra eu no Verão sonhava.» (OPC, p. 80).
A edição é primorosa, com uma excelente tradução, introdução e notas de Margarida Vale de Gato (uma tradutora que merece referência pela qualidade e quantidade do seu trabalho de tradutora), e com notáveis ilustrações de Filpe Abranches.
Acresce ainda o já referido ensaio “A Filosofia da Composição” (pp. 273-288), onde Poe explicita a génese de «The Raven» (ler p. 277), e nos revela a intenção de uma poesia sem «acaso» e sem «intuição».
É pena que a edição não seja bilingue; porém é compreensível: tal projecto iria seguramente encarecer uma edição desta exigência gráfica.
Edgar Allen Poe, Obra Poética Completa. Tinta-da-China, 2009 [ISBN 978-972-8955-93-9].
Comentários Desativados em Edgar Allan Poe sem intuição e sem acaso
Por uma ciência da civilização

Partidário de uma reflexão iconoclasta projectada sobre alguns dos temas contemporâneos mais problemáticos, em A Loucura de Deus Peter Sloterdijk ocupa-se do inquietante potencial de violência que os três monoteísmos mantêm no mundo actual. Ele pode preludiar, de certa forma, uma «guerra mundial» de um novo tipo, na qual as três grandes religiões com pretensões universalistas se defrontariam num combate total de morte e destruição destinado a obter o monopólio do absoluto e da verdade. Desde logo pela interferência da religião judaica, apoiada numa espécie de contrato «entre um psiquismo grave e grande e um Deus grave e grande». Depois, um cristianismo que conserva muitas das características que o ligam ao judaísmo mas integra «acentos cristológicos» de uma novidade ainda subversiva que lhe conferem uma dinâmica de proselitismo. Por fim um Islão que procurou, desde o seu atribulado início histórico, corrigir as falhas, as «errâncias», dos monoteísmos que o precederam, integrando desde a primeira hora «impulsos religiosos e político-militares» de uma natureza prática e belicosa.
Comentários Desativados em Por uma ciência da civilização
O fim dos bravos

«Com mil demónios! Julgo que não teríamos conseguido se eu não tivesse lá estado!» A frase foi pronunciada pelo Duque de Wellington quatro dias após ter comandado as tropas britânicas, holandesas, belgas e alemãs na batalha de Waterloo, selando aí o destino de Napoleão Bonaparte. Evoca também o tema central deste livro de John Keegan editado há já mais de vinte anos, logo após O Rosto da Batalha. Neste, era o soldado o protagonista, evocado na sua relação com a experiência directa da dor, da vozearia, do terror, da audácia e da exaustão espalhados pelos terrenos do combate. Em A Máscara do Comando é a figura do general ou daquele que assume o comando supremo que se encontra no centro, abordada pelo historiador a partir da leitura de quatro biografias e de quatro diferentes modelos de liderança.
Comentários Desativados em O fim dos bravos
Acidente e simulação em JG Ballard (pré-publicação)
 Negativity is a positive task.
Negativity is a positive task.
Paul Virilio
De que forma é que a literatura cooptou um dos dados mais fundamentais da experiência moderna: a presença incontornável (e o lado inexorável dos processos que essa presença reclama) de uma paisagem radicalmente transformada pelo concurso da ciência, ou melhor, da tecno-ciência? A pergunta instala-se imediamente num contexto de contornos difusos, mas mesmo assim decisivo para nós. A noção de tecno-ciência faz-nos assumir que o conhecimento científico se inscreve em complexas configurações de natureza social e material que lhe dão a sua gravidade, densidade, e poder. De que forma é que a literatura respondeu às figurações utópicas e distópicas do projecto moderno que visava projectar o mundo de acordo com os preceitos de um conhecimento politicamente necessário porque experimentalmente validável e universalmente verdadeiro?
Como alguém que prefere uma singularidade para fazer ecoar forças de improvável cartografia que a atravessam, sugiro que nos concentremos num exemplo cujas reverberações se tornam, a meu ver, reveladoras. A minha sugestão é que nos atenhamos a uma espécie de genealogia mais ou menos solta da escrita de um romance particularmente influente e sobre o qual se projecta uma luz que gostaria de caracterizar como oracular, isto é, como se se tratasse de um objecto que reclama uma exploração extrema (e extremada) realizada num território de potencialidades que parecem emergir sinuosamente do presente, esse presente que se dilata e que nos colhe irremediavelmente. Estou a falar de Crash (1973) de JG Ballard, e Crash pode ser pensado a montante, porque o livro é o resultado de um conjunto de obsessões que lhe são prévias.
Em conformidade com um dos preceitos ballardianos que nos diz que, para lá das nossas obsessões, pouco haverá que valha a pena ser perseguido, Ballard aventurou-se quase sistematicamente, desde finais da década de sessenta, num território de inquietação profunda a que Freud designou de Das Unheimliche, e a que o antropólogo Victor Turner chamaria certeiramente de liminar, isto é, um território de improvável classificação, porque betwixt-and-between: nem dentro nem fora, mas antes no umbral, aí onde a viscosidade (um mundo que não é líquido e que não é sólido) se torna uma constante afectiva, e onde aquilo que nos fascina é igualmente aquilo que nos repugna.
O cenário é o de um mundo onde se dramatiza e performatiza o espectáculo debordiano de uma sociedade de consumo que faz das derivas tecnológicas – e dos sulcos que estas deixam no tecido da história e da paisagem – uma alavanca para o seu exercício autofágico e onde, polémica e prescientemente, tecno-ciência e pornografia se associam num exercício de reconfiguração do poder e do desejo.
(…)
No seu último Miracles of life, Shanghai to Shepperton: an autobiography (2008), Ballard revisita Crash, revelando-nos, mais uma vez, como se trata um livro profundamente enraizado num período histórico (os sixties) e como a tópica do «acidente» e da (more…)
Comentários Desativados em Acidente e simulação em JG Ballard (pré-publicação)
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VII)

Colocado expressamente sob signo infausto, Corvo seria a taumaturgia de um território que não sobreviveu. As três epígrafes do livro – Poe, La Fontaine e o rimance de D. Filomena que convém transcrever: «Os corvos lhe comam os olhos e a raiz do coração» – não apenas declaram esse fado como deslocam a questão do território para o plano de uma mediação situável entre poesia e cultura e, ainda, entre o popular e o erudito. O poema inicial, porém, declara o corvo (aqui um devir outronímico do poeta) um taumaturgo de feira – «de ti os vindouros sem penas / farão arroz de cabidela / ou quem sabe torpe gralha, / de corvo corruptela.» -, anunciando a sua desqualificação em gralha, consumada no último acto/poema do livro. Mas declara sobretudo a inutilidade da taumaturgia enquanto protesto que nada pode, tanto quanto a indignação ou revolta nada pode contra a naturalização do devir do mundo do tardo-capitalismo (chamemos-lhe «desertificação do interior», «abandono do mundo agrário» ou «efeitos da globalização»).
A inteligência deste livro reside porém na permanente sobreposição da «lógica do poético» à do mimético e, em consequência, na deflação das nem que apenas tentações de confiar um programa de salvação a um regime ou registo mimético. Os versos que transcrevi do poema inicial tanto são o auto-retrato do corvo enquanto taumaturgo falhado – e como o não seria, sendo ele, em rigor, uma persona vicária, e talvez propiciatória, do mundo secularizado, que delega em corvos e fantasmas os seus desejos inconvictos de crença? -, como são ainda o auto-retrato fiel do poeta moderno, de perfil aliás muito mallarmeano, magnificamente resumido no «inútil protesto / de utilíssimo nada».
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VII)
Sobre o prestígio de uma ideia
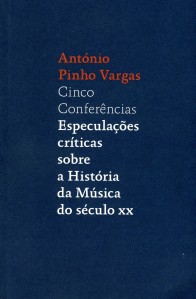
António Pinho Vargas começou como pianista, entre o jazz de inspiração free dos anos 60-70, o jazz-rock do mesmo período, e algumas colaborações pontuais na cena pop-rock. Depois evoluiu para uma formação e uma versão de câmara do jazz moderno, algo próxima da chamada sonoridade ECM, reconhecível pela riqueza melódica, singeleza harmónica (neste livro, o autor explica a sua recusa, nessa fase, das «extensões harmónicas» típicas do jazz) e contenção improvisativa, tendo gravado uma série de discos com bom acolhimento público, vários deles premiados. A certa altura, passou para o campo da «música contemporânea», na qual foi praticando e defendendo posições «eclécticas», mas sempre com uma referência matricial à questão da atonalidade. Compôs, entre várias peças, algumas delas editadas em disco, três óperas, uma ainda muito recente e com excelente acolhimento crítico. Este livro, que é o segundo do autor, que entretanto se tornou também professor e assessor nas mais importantes instituições da vida musical do país, membro da direcção da OrchestrUtopica e, ultimamente, investigador do CES, reúne 5 conferências realizadas na Culturgest em 2005, explicadas por um subtítulo muito justo: «Especulações críticas sobre a História da Música do século XX».
O registo do volume é oral e digressivo, não raro humorado e irónico, o tom é didáctico e muito apoiado em textos e excertos de peças musicais, o desenvolvimento dos argumentos e a composição das conferências são mais nítidos e performativos nas conferências iniciais e vão-se tornando algo mais derivativos nas finais, talvez por ao longo do livro ir crescendo uma certa crispação pessimista em torno do legado da música do século XX e da sua situação actual. Não surpreende, uma vez que a música do Século XX – a Nova Música de que falava o filósofo e musicólogo alemão Adorno – é uma questão em aberto e em ferida: sem comunicação, sem público, sem um futuro que se possa rever no essencial da sua matriz e do seu legado, condenada, enfim, a ser eternamente Nova, ou seja, nunca efectivamente popular. De Adorno, Pinho Vargas refere, logo a abrir, A Filosofia da Nova Música e a sua encenação do combate entre Schoenberg, ou o progresso, e Stravinsky, ou a restauração (a reacção, melhor dito). Mas não resiste a citar, logo na p. 20, a frase inicial da sua Teoria Estética, já postumamente editada em 1970, que também não resisto a retomar: «Tornou-se manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua relação ao todo, e até mesmo o seu direito à existência». É caso para dizer que, assim como a Filosofia da Nova Música é de facto a grande teoria estética do modernismo em todas as artes, a frase que abre a Teoria Estética aplica-se à música antes e acima de todas as outras artes, pois em nenhuma delas as consequências do modernismo foram tão radicais e, aparentemente, irreversíveis ou, se se preferir, danosas – desde logo porque tais consequências parecem funcionar, como que por necessidade, numa teleonomia que se diria inquebrável.
Comentários Desativados em Sobre o prestígio de uma ideia
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VI)
A Arcádia transmontana, como vimos antes, é tanto uma retórica da terra como uma retórica da temporalidade. Em «Vida moderna», antepenúltimo poema do livro, o sujeito senta-se numa pedra, «ciente de que a pedra / jamais se recompôs / do poema de Carlos Drummond» e desembrulha uma sandes de queijo que come devagar «enquanto os cavalos olham desconfiados / sem que deixem por isso de pastar». A cuidada disposição da cena evidencia o entre-lugar deste sujeito, que contempla signos oraculares da imobilidade de um mundo enquanto se entrega a uma prática que define a aceleração da vida moderna: a fast food (em versão domesticamente aceitável, digamos). O módico de idílio da cena é porém «comentado», de forma irónica, por um telemóvel que «expulsa» os pássaros:
Mas devia ter deixado
o telemóvel em casa:
trouxe-o comigo,
não tenho por isso agora
pássaros a cantar.
Os pássaros não parecem ser expulsos do mundo, mas antes do poema ou, pelo menos, do mundo que atravessando o sujeito se faz poema: é porque o telemóvel preenche o espaço fenomenal reservado à escuta que os pássaros não conseguem ser (ascender a) matéria textual. Não se trata tanto de declarar «A Arcádia não mora aqui» mas antes de admitir, com o upgrade induzido pelo telemóvel, a constituição tecno-pastoral deste sujeito «transmontano»: uma prótese da (e de) origem, que faz da proximidade ao mundo pastoral uma hipótese diferida por uma infindável série de mediações (a pedra que é afinal, e necessariamente, a de Drummond, o telemóvel que está pelas aves canoras).
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (VI)
London, por Borges
 O presente volume pode ser uma de três coisas, a saber: uma excelente introdução à obra de Jack London, uma aproximação à constelação literária de Jorge Luis Borges, e um contacto (também ele sensorial e físico) com uma das colecções mais fascinantes de literatura do século XX.
O presente volume pode ser uma de três coisas, a saber: uma excelente introdução à obra de Jack London, uma aproximação à constelação literária de Jorge Luis Borges, e um contacto (também ele sensorial e físico) com uma das colecções mais fascinantes de literatura do século XX.
É um modo feliz de nos aproximarmos do trabalho literário de Jack London (1876-1916), autor americano de grande popularidade (foi um dos primeiros escritores americanos a fazer fortuna com a escrita) no seu tempo, e que é justamente considerado um dos brilhantes mestres da narrativa, e em particular do conto.
Borges reviu-se evidentemente em London, e esta colecção de A Biblioteca de Babel, espelha-o. O livro contém seis contos de London, de onde sobressai uma afirmação da literatura enquanto narrativa que Gustavo Rubim, numa notável recensão no Público, identificou como sendo um trabalho que foge habilmente às derivas da interpretação, e onde os acontecimentos dominam o fluxo textual. Escreve Rubim: «[M]as a mestria de London não está no modo como ergue ou insinua uma visão do mundo; está no modo como põe a narrativa acima do sentido, num jogo de esquiva às interpretações» (Ípsilon, 6 de Fevereiro, p. 29).
Trata-se de uma colecção que Borges dirigiu, seleccionando todos os volumes que a compõem, e prefaciando-os com ensaios seus sobre cada um dos autores escolhidos. É interessante verificar como o grande escritor argentino faz aí ombrear clássicos, como Edgar Allan Poe e Henry James, com escritores relativamente obscuros ou mesmo esquecidos hoje, destacando-se, entre outros, Gustav Meyrink e Arthur Machen.
sobre cada um dos autores escolhidos. É interessante verificar como o grande escritor argentino faz aí ombrear clássicos, como Edgar Allan Poe e Henry James, com escritores relativamente obscuros ou mesmo esquecidos hoje, destacando-se, entre outros, Gustav Meyrink e Arthur Machen.
Esta colecção revela não apenas as predilecções de Borges (uma grande parte vai para autores de língua inglesa), sendo, neste sentido, um modo de acedermos aos seus mestres, mas também a importância capital que o livro – enquanto objecto dotado de valências estéticas (e metafísicas) óbvias – detém no seu imaginário e na própria ideia que temos de literatura.
Neste sentido, importa referir que é o produto de um encontro entre o editor Franco Maria Ricci e Borges, himself, em que o primeiro propôs ao segundo a direcção de uma colecção de obras fantásticas que só podia chamar-se A Biblioteca de Babel. Os livros são belíssimos (como era próprio de Ricci), e a edição da Presença respeita escrupulosamente o grafismo original. (Creio que há uns anos atrás a Vega tentou trazer esta colecção para Portugal, ou copiá-la, com resultados desastrosos em termos gráficos, diga-se).
As traduções são cuidadas. Recomenda-se, pois, vivamente. (Tradução de Maria João da Rocha Afonso).
Jack London (2009) A Mão de Midas, Editorial Presença (colecção A Biblioteca de Babel, dirigida por Jorge Luis Borges). [ISBN: 978-972-23-4069-4]
Comentários Desativados em London, por Borges
Kertész
 O escritor Imre Kertész, nascido em 1929 em Budapeste, judeu húngaro, sobrevivente à experiência dos campos de exterminío, e Prémio Nobel da literatura do ano de 2002, é, sem dúvida, um escritor notável. A inteligência narrativa de Kertész, a acuidade e sobriedade estilísticas, o significado moral dos seus textos, não encontram grandes paralelos na ficção contemporânea, a não ser, talvez, em JM Coetzee.
O escritor Imre Kertész, nascido em 1929 em Budapeste, judeu húngaro, sobrevivente à experiência dos campos de exterminío, e Prémio Nobel da literatura do ano de 2002, é, sem dúvida, um escritor notável. A inteligência narrativa de Kertész, a acuidade e sobriedade estilísticas, o significado moral dos seus textos, não encontram grandes paralelos na ficção contemporânea, a não ser, talvez, em JM Coetzee.
Kertész, desde que ganhou o Nobel, tornou-se um escritor traduzido e amplamente divulgado. Em Portugal existem já algumas traduções, destacando-se, pela Editorial Presença, a publicação de A Recusa, Sem Destino, e Kaddish Para Uma Criança Que Não Vai Nascer, um tríptico que parte da sua memória do intolerável em Auschwitz e Buchenwald.
Detective Story (2009), em tradução inglesa de Detekívtörténet (1977), reflecte em grande medida a dimensão fortemente moral e política do seu percurso de escritor. Trata-se de um romance que se detém no espaço interior de um homem, um torturador. O cenário é o de uma prisão num país sem nome da América latina. Um regime ditatorial chegou ao seu fim, e esse homem, Antonio Martens está encarcerado a cumprir uma pena por ter pertencido à polícia secreta que torturou e executou Enrique Salinas e seu pai, Frederigo.
O texto é escrito na primeira pessoa do singular – é fundamentalmente um texto confessional, procurando justamente captar a voz de Martens -, fazendo incorporar ainda fragmentos de um diário de Enrique (que se encontram na posse de Martens), o jovem brutalmente assassinado pela polícia secreta. Assim, temos aqui uma ficção que procura mergulhar na psicologia profunda, na subjectividade extrema, do vitimizador e da vítima, numa tensão entre inocência e cinismo, magnificamente trabalhada por Kertész.
Imre Kertész (2009) Detective story, Vintage [ISBN 978-0099523390]
Comentários Desativados em Kertész
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (V)
O que é, em Corvo, essa programática (e problemática) «retórica da terra»? Nada menos, para começar, e para começarmos pelo poema que tal expressão convoca, do que uma ars oblivionis, cumprida com o zelo que se vota aos impossíveis:
Cumprimos com zelo
a tarefa de esquecer a terra
até que surpreendidos por camélias
num quintal abandonado
escrevemos livros onde lembramos
a terra que esquecemos
e de tal sorte escritos
morremos.
Os versos parecem propor a reversibilidade de amnésia e anamnese: a camélia no «quintal abandonado» reintroduz no sistema a memória que pela escrita se eleva a algo assim como um imperativo. O correlato objectivo da memória recuperada que é a camélia é porém tão performativamente contraditório como o livro: ambos ratificam, por «surpresa» ou vanidade, a distância infranqueável da terra – essa entidade só convocável afinal por uma retórica – e são por isso, cada um à sua maneira, assinaturas (e tatuagens) de uma mão inútil.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (V)
Barba Azul, Papão e Companhia

Barba Azul, Papão e Companhia, apesar de ser uma obra de meados dos anos 80, foi agora editado pela primeira vez em Dezembro de 2008 pela Cavalo de Ferro, numa tradução de Ana Paiva Morais. É um livro de contos, dezassete breves histórias de Eric Jourdan acompanhadas por dezassete ilustrações inéditas de Paula Rego. Este livro resulta de uma colaboração entre a pintora e o escritor que resolvem remexer o mundo da literatura infantil. Quem tem crianças em casa, ou simplesmente se interessa por literatura infantil de certeza que já se deparou com o problema de encontrar histórias que sejam minimamente interessantes. Apesar de não ser nada uma especialista no campo, acontece-me sempre comprar livros que contam histórias melosas e aborrecidas da “avó Bita” que faz bolinhos quentinhos e do “Joãozinho” que não gostava de sopa e depois já gosta… Em suma… uma chatice. (more…)
Comentários Desativados em Barba Azul, Papão e Companhia
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (IV)
Talvez não seja necessário fazer disto um elogio da coerência interna da obra de Rui Lage, mas é difícil não reconhecer, em alguns poemas de Revólver, o anúncio, se não o programa, de Corvo. Refiro-me à secção III do livro, «Caça Furtiva», e ao poema que a abre, «Mad Max», um «filme de percurso» enunciado no dístico inicial: «Farei o caminho que leva / da cidade à floresta». A cidade é aqui a marcada pelo subúrbio e pela conurbação, numa sucessão de paisagens que diríamos ballardianas – «Altares de sucata, retábulos de pneus / carros com simpósios de heras e rosas» -, não se desse o caso de a descrição ser ainda comandada pelos códigos do «realismo social» que prescrevem um sentido político a um ponto de partida muito situado: «o caminho que começa / em bairros sociais».
O sentido vai-se porém perdendo no percurso, que desemboca em «pinhais duvidosos» e na paisagem de uma continuada perda de referências: «porque parti de sítio nenhum / (parti, por exemplo, de ti) / com imensa saudade / da cidade que esqueci.» O poema seguinte, «Hominídeos (ode ao Vale do Rift)», desloca o «filme de percurso» para a filogénese, concluindo, após o espectáculo terminal do «longínquo temor das coisas longínquas / no ecrã que faz dançar o sofá / com estranha luz de plasma e alta definição», que
Morreremos sem pisar de novo
a terra firme da savana.
Esqueceremos Lucy, seus frágeis,
ternos ossos,
esqueceremos também o apelido
do pai, Leakey,
e onde quer que nos deitemos
estaremos sempre muito longe de casa.
Os últimos dois versos são uma herança do drama ontológico da grande poesia moderna portuguesa, entre Pessoa e Belo, mas a forma como Lage alarga o panorama da moderna perda do Ser, enquadrando-a na hominização, transfere a crise da metafísica para o quadro pós-humanista (e pós-moderno) do parque humano. A «terra firme» desaparece e, na sua vez, surge uma ecologia assegurada por uma série de hipertécnicas que fazem vacilar justamente o nosso nicho ecológico ou «sofá»: o ecrã de plasma, o modo pontilhista da imagem televisiva, dizem agora a nossa condição, não apenas ontológica mas também tecnologicamente evanescente (é difícil não pensar no filme que resume genialmente toda esta fenomenologia: Poltergeist, de Tobe Hooper).
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (IV)
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (III)
Rui Lage expõe os problemas do seu projecto neste livro num poema magnífico, intitulado «Auto da Horta Destruída». O poeta, como a cultura portuguesa a que pertence, está dividido entre uma herança miserável – «Que triste, país, é a moral / da fábula campestre / que longos séculos nos deste / a ler» -, a sua recodificação tardocapitalista – «o teu luto / dá pelo nome de turismo rural» – e o destino litorâneo e surfista da nação, «obesa / prancha ocidental». O poema abre com um verso que é, nem de propósito, um espécime que diríamos revisionista: não custa imaginar que, sem as vírgulas, ou seja, reescrito assim – «Que triste país é a moral» -, este pudesse ser um verso de Joaquim Manuel Magalhães e da linha de revindicação ético-política que dele provém (ou de uma utilização expansiva do ético-moral que o faz mesmo coincidir com o político, numa linha muito «setentista» e foucaldiana), na poesia portuguesa contemporânea. A «versão» de Rui Lage recupera a possibilidade de um endereçamento positivo a uma entidade colectiva de que a geração, ou melhor, o «grupo» de JMM, desistira, quer por ter passado a um uso tropado de «país» como «moral» – maioritária, repressiva, etc. –, quer por, em função dessa desistência, ter optado por endereçamentos a entidades parcelares, numa tradução da hysteresis contemporânea das identidades.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (III)
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (II)
Sobre os caminhos tortuosos da fidelidade, muito haveria porém a dizer a propósito deste livro. Uma nota apenas, por agora: o livro vem acompanhado de uma «Playlist» – «39 temas para 39 poemas» -, que é difícil não contrastar com o poema «Música Portuguesa (Best Portuguese Act)» do anterior Revólver (2006), ominosamente dedicado, entre outros, a João Aguardela. Nele podemos ler, na estrofe central:
A rádio toca lá dentro música barata,
ninguém o desliga, porém,
e deixamos poluir os ouvidos
com anglo-saxónicos acentos
saídos de parolas, provincianas,
extasiadas gargantas portuguesas
(tigres lendários com que Blake
nem sonhava).
A Playlist de Corvo, porém, oferece apenas 7 temas de música portuguesa (pop, tradicional, clássica e contemporânea) entre 39, distribuídos pela pop, que domina, e a clássica e contemporânea, sendo que quem de facto domina é a indústria anglo-americana. Ou seja, este corvo que é, na origem, Raven, não pressupõe a fidelidade idiomático-musical que faria coincidir expressivamente território, sujeito colectivo, língua-materna e neo-realismo mimético. Pelo contrário, na medida em que propõe para banda sonora um constructo que oscila entre o internacional e o cosmopolita, desloca a questão da fidelidade, de um só golpe, para um outro plano que não o de uma «estética orgânica», tal como se tende sempre a pensar as questões da representação, a partir do momento em que elas são de algum modo territorializadas – desloca-o, digamos, para aquela «conformidade rítmica com o original» (e só isso, que aliás é muito) que Pessoa declarava como critério da sua tradução de The Raven, de Poe.
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (II)
Neurocrítica
 David Lodge é, por aqui, mais conhecido pelos seus trabalho de ficção do que pelos seus ensaios literários. Mas quem o lê com atenção sabe que os primeiros têm uma relação fortíssima com os segundos. Assim, por exemplo, é óbvia a relação entre Thinks (2001) – também publicado entre nós pela sua editora em Portugal, a Asa, sob o título de Pensamentos Secretos (2002) – e este volume de ensaios vários com o título de A Consciência e o Romance.
David Lodge é, por aqui, mais conhecido pelos seus trabalho de ficção do que pelos seus ensaios literários. Mas quem o lê com atenção sabe que os primeiros têm uma relação fortíssima com os segundos. Assim, por exemplo, é óbvia a relação entre Thinks (2001) – também publicado entre nós pela sua editora em Portugal, a Asa, sob o título de Pensamentos Secretos (2002) – e este volume de ensaios vários com o título de A Consciência e o Romance.
Lodge desenvolve, no ensaio que dá título ao volume, um argumento muito estimulante sobre a relação entre os estudos da consciência nas neurociências contemporâneas e o modo como o romance moderno articula um conjunto de reflexões sobre a consciência como atributo definidor do humano. Toda a argumentação de Lodge prende-se, afinal, com a forma como os romancistas articularam (ou não) narrativamente aquilo que nas neurociências cognitivas se chama de ontologias na primeira pessoa e ontologias na terceira pessoa. A descrição de um mundo subjectivo e a descrição de um mundo objectivo, para sermos menos técnicos. De algum modo, esta relação só pode ser pensada à luz de um compromisso com a ciência contemporânea, e Lodge sabe-o tão bem que, em passagem, não deixa de satirizar o alcance das correntes comportamentalistas (e wittgensteinianas, acrescentaria eu), através de anedotas como esta (que já aparecia em Pensamentos Secretos, como se poderá ver na citação):
Até há muito pouco tempo, a consciência não era um tema muito estudado nas ciências naturais, sendo considerado um domínio da filosofia. A psicologia, apesar de aspirar a ser uma ciência empírica, considerava a consciência como uma «caixa negra». Tudo o que podia ser observado e medido era o que lá se introduzia e de lá saía, e não o que acontecia no seu interior, o que impunha sérias limitações ao estudo da experiência humana. O meu cientista cognitivo em Pensamentos Secretos diz à heroína, a romancista: «Há uma velha anedota, que aparece em quase todos os livros sobre a consciência, sobre dois psicólogos comportamentalistas que depois de fazerem sexo dizem um para o outro: ‘Foi bom para ti, como é que foi para mim?’ (p. 17).
Ou seja, o purismo externalista de extracção linguística e comportamental poderá ter um limite, e este limite é aqui enunciado de um modo particularmente significativo, sobretudo pela clareza com que é feito.
O livro dá-nos ainda ensaios notáveis sobre Dickens, Waugh, Kingsley e Martin Amis, Henry James, e Philip Roth, entre outras pérolas. Acresce ainda uma entrevista em torno de Pensamentos Secretos.
David Lodge (2009), A Consciência e o Romance, Lisboa, Asa [ISBN 978-989-23-0368-0]
Comentários Desativados em Neurocrítica
Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (I)

Uma certa visão da nossa cena poética como estruturada em posições muito marcadas e mais ou menos antagónicas, com papéis distribuídos por actores muito conscientes deles, tem como consequência que um livro tão importante para a poesia portuguesa actual como este Corvo, de Rui Lage, que não tem um lugar nítido nessa lógica distribucional, tenha sido objecto, até ao momento, e tanto quanto me é dado perceber, de um silêncio unânime. Ao seu quarto título, Rui Lage escreveu um livro que fazia falta à poesia, à literatura e ao país que neste momento somos, pois o seu objecto e propósito é, digamos, «escrever um livro sobre Trás-os-Montes» ou, se se preferir, «escrever Trás-os-Montes» em verso, como se declara na epígrafe inicial: «Para os transmontanos que sobreviveram ao deserto e para aqueles que não lhe puderam resistir».
Comentários Desativados em Et in Arcadia ego: o corvo de Rui Lage (I)
Outra vez Pessoa
 Richard Zenith, que se tornou conhecido sobretudo através das suas edições e traduções do Livro do Desassossego, é hoje um dos especialistas mais reputados da obra pessoana, ao qual devemos também, por exemplo, boas edições de A educação do estóico e do Heróstrato. A Fotobiografia de Fernando Pessoa que agora nos apresenta integra-se numa colecção de Fotobiografias de personalidades portuguesas do Século XX, editada pelo Círculo de Leitores e coordenada por Joaquim Vieira, e podemos dizer que tem a sua génese nas “Notas para uma biografia factual”, que servia de posfácio ao volume Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal, editado em 2003 pela Assírio & Alvim.
Richard Zenith, que se tornou conhecido sobretudo através das suas edições e traduções do Livro do Desassossego, é hoje um dos especialistas mais reputados da obra pessoana, ao qual devemos também, por exemplo, boas edições de A educação do estóico e do Heróstrato. A Fotobiografia de Fernando Pessoa que agora nos apresenta integra-se numa colecção de Fotobiografias de personalidades portuguesas do Século XX, editada pelo Círculo de Leitores e coordenada por Joaquim Vieira, e podemos dizer que tem a sua génese nas “Notas para uma biografia factual”, que servia de posfácio ao volume Escritos autobiográficos, automáticos e de reflexão pessoal, editado em 2003 pela Assírio & Alvim.
O maior mérito de Zenith como biógrafo consiste em nada dar por adquirido ou definitivo, sem antes analisar os factos de acordo com os documentos existentes e com o seu próprio critério de razoabilidade. Foi assim que descobriu, há já alguns anos, e contrariando uma tradição fixada por João Gaspar Simões e com alguns decénios de vigência, que foi em 1909 e não em 1907 que Fernando Pessoa criou o seu primeiro empreendimento empresarial, a malograda Tipografia e Editora Íbis.
No presente trabalho, realço sobretudo a reprodução de um documento da Direcção Geral dos Serviços de Censura à Imprensa que proíbe que seja dado “relevo ao que sobre Maçonaria publicou o Diário de Lisboa, em artigo de Fernando Pessoa, a propósito do projecto do Dr. José Cabral sobre Associações Secretas”.
Defeitos? Digamos que Richard Zenith é excessivamente generoso a atribuir a qualidade de heterónimos a figuras inventadas por Fernando Pessoa (por exemplo, ao Chevalier de Pas), quando o poeta só admitia essa designação para personalidades literárias, com obra produzida, e mesmo assim só para algumas (muito poucas, por sinal).
Convém, creio, não esquecer o que significava originariamente a palavra heterónimo, que Fernando Pessoa parece ter conhecido tardiamente, mas de que se apropriou ao ponto de lhe mudar o sentido. Se consultarmos o Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza pelo Dr. Fr. Domingos Vieira, publicação feita sobre o manuscripto original, inteiramente revisto e consideravelmente augmentado (vol. III, Porto, Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1873, pp. 972), encontramos a seguinte entrada: “Auctor heteronymo; auctor que publica um livro sob o nome veridico de uma outra pessoa”.
Richard Zenith (2008), Fernando Pessoa (Fotobiografias Século XX), Lisboa, Círculo de Leitores [ISBN: 978-972-42-4349-8]
Comentários Desativados em Outra vez Pessoa
Música azul
 Este é um livro do singularíssimo Oliver Sacks, o mesmo que nos trouxe, desde o seu The Man Who Mistook his Wife for a Hat (1985), a possibilidade de nos confrontarmos com a dimensão literária dos «estudos de caso» em ciência. É verdade que a prática de estudos de caso é comum em ciência desde longa data, mas foram poucos, e são poucos ainda hoje, os cientistas que nos conduzem, justamente, para o facto de se tratar de um dos lugares de eleição em que literatura e ciência se cruzaram e cruzam de um modo existencial e estilisticamente significativo.
Este é um livro do singularíssimo Oliver Sacks, o mesmo que nos trouxe, desde o seu The Man Who Mistook his Wife for a Hat (1985), a possibilidade de nos confrontarmos com a dimensão literária dos «estudos de caso» em ciência. É verdade que a prática de estudos de caso é comum em ciência desde longa data, mas foram poucos, e são poucos ainda hoje, os cientistas que nos conduzem, justamente, para o facto de se tratar de um dos lugares de eleição em que literatura e ciência se cruzaram e cruzam de um modo existencial e estilisticamente significativo.
Sacks contribuiu, sem margem para dúvidas, para a disponibilidade que existe hoje no mercado livreiro (sobretudo no mundo anglo-saxónico) para este tipo de trabalhos em que as histórias clínicas servem de mote para explicitar um drama existencial e, ao mesmo tempo, para nos elucidar acerca de um problema científico. Em grande medida, uma parte considerável da popularidade do notável neurocientista português António Damásio prende-se com isto também. Pena é que ainda se não tenha descoberto o manancial de histórias que, por exemplo, a antropologia contém, visto tratar-se porventura de uma das ciências que mais desenvolveu metodologicamente a prática dos estudos de caso.
Bem, mas regressemos a Sacks, ao justamente famoso Sacks. Neste seu livro, Musicofilia, o neurologista inglês sediado nos Estados Unidos, traz-nos um conjunto de históricas clínicas que nos permitem compreender a extraordinária relação entre a música e o cérebro. Os estudos clínicos aqui apresentados são de dimensão e alcance desigual. Vão de histórias que nos contam como pode uma canção ficar colada à mente numa espécie de loop contínuo, a outras que nos parecerão verdadeiramente insólitas: pacientes com doenças degenerativas cujos sintomas recuam através do seu contacto com a música, homens adultos que apanhados por um relâmpago desenvolvem um gosto obsessivo por música para piano, chegando a conseguir atingir um significativo domínio do instrumento, maestros que são atacados por estranhas formas de amnésia que os fazem tudo esquecer, menos a sua capacidade para dirigir e cantar, etc.
Gosto particularmente da parte acerca das sinestesias. Escreve Sacks:
De todas as formas diferentes de sinestesia, a sinestesia musical – principalmente efeitos de cor experimentados enquanto ouvimos ou pensamos em música – é uma das mais comuns, e provavelmente a mais dramática. Desconhecemos se é mais comum em músicos ou pessoas musicais, mas claro que é mais provável que os músicos tenham maior consciência dela, e muitas das pessoas que ultimamente me descreveram as suas sinestesias musicais são músicos. // O famoso compositor contemporâneo Michael Torke tem sido profundamente influenciado por experiências com música colorida. Torke revelou talentos musicais notáveis numa idade precoce e com cinco anos deram-lhe um piano, e uma professora de piano. «Já era compositor aos cinco anos», diz – a professora dividia as peças em secções e Michael rearranjava as secções em ordens diferentes enquanto tocava. // Um dia comentou com a professora, «Adoro aquela peça azul.» // A sua professora não tinha a certeza de ter ouvido bem: «Azul?» // «Sim», disse Michael, «a peça em Ré maior […] Ré maior é azul.» // «Para mim não», respondeu a professora. Estava intrigada e o Michael também, pois ele assumia que toda a gente via cores associadas a claves musicais. Quando começou a perceber que nem todos partilhavam desta sinestesia, teve dificuldade em imaginar como isso seria, pensando que era equivalente a «uma espécie de cegueira» (pp. 171-172).
As «vogais» de Rimbaud têm afinal um correlato neurológico.
Sacks, Oliver, Musicofilia: Histórias Sobre a Música e o Cérebro, Lisboa, Relógio d’ Água, 371 pp., 2008 [ISBN 978-972-708-997-0]
Comentários Desativados em Música azul
O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo

José Reis, professor de Filosofia na Universidade de Coimbra, lançou recentemente, nas Edições Afrontamento, O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo. Este é um livro muito interessante mas que me deixou algumas dúvidas. O autor sugere que, como diz na contra capa: “o prazer e a dor são, em todas as suas relações e modalidades, físicas e psicológicas, a única coisa que move o homem”. Uma afirmação forte, e para a provar José Reis pega em duas éticas aparentemente díspares, a de Aristóteles e a de Kant, e tenta mostrar como na verdade ambas funcionam sob a mesma base, a mesma essência: o prazer e a dor. Assim como também a religião. Segundo o autor tudo, e digo bem, “Tudo está aí, doravante, ao alcance da mão. E ainda por cima, como se vê, tudo isto não é uma teoria mas a simples descrição dos factos que nos constituem”. É logo este tom excessivamente assertivo que me faz desconfiar. Continuo ainda a preferir a tríplice de Feuerbach “Amor, Razão e Vontade”. E o Amor pode ser, justamente, o elemento que desconstrói a teoria de que o homem é movido exclusivamente pela repulsa à dor e a atracção pelo prazer. Um dia Roland Barthes disse que a dor de um amante abandonado era semelhante ao martírio de um homem num campo de concentração. Foi muito criticado por isto. Mas admitindo que a dor na relação amorosa pode, de facto, ser avassaladora, não deixa de ser curioso observar como o ser humano, quando abandonado, em vez de fugir da dor, procurando esquecer aquele que lhe faz doer, pelo contrário, o procura e deseja talvez com mais força, tantas vezes se deixando sucumbir. No entanto, este continua a ser um livro que suscita debate, nos faz pensar em nós, nas nossas acções, no seu porquê. E por isso é um livro que recomendo.
José Reis (2008), O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo. Santa Maria da Feira: Edições Afrontamento. 99 pp. [ISBN: 978-972-36-0974-5]
Comentários Desativados em O Prazer e a Dor – Diónisos na Escola de Apolo
A Invenção do Cinema Português

Também das edições Tinta da China chega-nos A Invenção do Cinema Português. Este livro, apesar de o poder parecer, num primeiro olhar rápido, não é um mero catálogo de fotografias e sinopses de filmes, de escolhas avulsas de algum modo espectáveis. O autor, Tiago Batista, consegue estabelecer uma excelente ligação histórica e de afinidade que ajuda a entender os diferentes momentos a que os filmes se referem e, através deles, a evolução operada no cinema em Portugal.
O livro começa com uma ideia que joga com a famosa e irónica afirmação de Bénard da Costa “O cinema português nunca existiu”, ao afirmar justamente o oposto: “O cinema português sempre existiu”. Não tanto o cinema feito em Portugal, mas refere-se o autor a uma cinematografia nacional. Uma procura de “portugalidade” que todos os cineastas portugueses, até meados da década de 90, de algum modo impuseram a si mesmos, e que acabou por se colar a eles. A crítica, especialmente a estrangeira, terá contribuído para a construção de um estereótipo a que se chamou “escola portuguesa” e que tanto serviu para unir como para separar filmes e realizadores.
Mesmo tendo consciência de que não era esse o objectivo de Tiago Batista com este livro, ao acabar de ler A Invenção do Cinema Português é impossível não sentir que continuamos a precisar de uma obra que seja, de facto, uma história do cinema português (ou do cinema em Portugal, uma vez que a expressão pode ser ambígua). Uma obra mais sistemática. E isso nota-se, desde logo, na própria bibliografia indicada neste livro, composta maioritariamente por artigos dispersos em livros ou em revistas, uma edição de 1986 da História do Cinema Português, de Luís de Pina – que precisa, naturalmente, de ser revista e aumentada.
Tiago Batista (2008), A Invenção do Cinema Português. Lisboa: Tinta da China. 231 pp. [ISBN: 978-972-8955-84-7]
Comentários Desativados em A Invenção do Cinema Português
Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?

Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?, das edições Tinta da China, é um trabalho de grande qualidade e profissionalismo. Como diz na apresentação do livro o seu autor, Luís Trindade, é impossível ter uma ideia de quantos anúncios foram feitos na história da publicidade. Neste livro restringe-se o campo de observação a um espaço, Portugal, a um tempo, o século XX, e a um suporte, as publicações periódicas. Ainda assim o material permanece imenso. Os anúncios estão de tal modo presentes, para não dizer omnipresentes, na nossa vida, na nossa sociedade, que se torna impossível escapar à sua influência. E, ao mesmo tempo, a sua natureza é intrinsecamente volátil, passageira. As escolhas que compõem o livro são por isso muito importantes e muito difíceis.
Luís Trindade, professor de Estudos Portugueses na Universidade de Londres e investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, conhece muito bem o campo das publicações periódicas em Portugal. Tem vários títulos publicados nesta área, entre os quais destaco o recente Primeiras Páginas. O Século XX nos Jornais Portugueses (2006, Edições Tinta da China). Ao contrário deste último, em Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade? Luís Trindade opta por seguir uma organização não cronológica, juntando anúncios de 1905 ao lado de anúncios dos anos 80 ou 90. A mulher e a máquina são os temas mais representados nos anúncios e servem de leitmotiv nesta narrativa que o autor tenta construir sobre a história da publicidade em Portugal, que é também uma história de Portugal.
Comentários Desativados em Foi Você Que Pediu Uma História da Publicidade?
Variações para além do Sexo e Género

Publicada em Setembro de 2008, Variações sobre Sexo e Género é a mais recente antologia de textos que reflectem e incitam à reflexão sobre a contemporaneidade, mais concretamente as questões relativas à «diferença», nomeadamente, entre homens e mulheres. Com textos de Jane Flax, Joan Scott, Françoise Collin, Gisela Bock, Donna Haraway ou Judith Butler, este livro constitui um pensamento sobre o pensamento e discursos epistemológicos dos estudos feministas, de género, sobre as mulheres, etc. – um «meta-discursi-metodológico», para utilizar a expressão de outra autora presente nesta antologia, Rosi Braidotti. À semelhança de outras (raras) antologias críticas do feminismo contemporâneo (por exemplo, Género, Identidade e Desejo. Antologia Crítica do Feminismo Contemporâneo, organizada por Ana Gabriela Macedo), Variações sobre Sexo e Género constitui uma ferramenta teórica de inegável valor, por tornar acessível, em português, textos seminais dos estudos feministas e, sobretudo, pelo jogo de tradução da tradução que implica e impulsiona. E é precisamente perante o que podíamos chamar de dupla tradução que assenta a relevância desta compilação. Por um lado, torna acessíveis textos que não são facilmente disponibilizados. Por outro lado, possibilita e convida à reflexão sobre as influências que as traduções podem ter no pensamento feminista português, visto que os conceitos são traduzidos pelas e nas especificidades nacionais. Porque urge «um trabalho de tradução e confrontação das (…) múltiplas diferenças» dos feminismos (Braidotti, 26), na senda da definição dos «valores que desejamos [intelectuais feministas] promover e transmitir» (idem, 20), esta compilação de textos teóricos, pela reflexão que promove, revela-se uma plataforma de diálogo de crucial importância.
Num jogo de fronteiras esbatidas – mas sempre presentes – , percorremos os textos desta antologia num vaivém teórico: do exterior para interior e daqui para o um novo exterior ou mesmo «entre o dentro e o fora dos estudos feministas», como sugere Collin (p.9). E é deste jogo oscilante, variado e de variações, que se faz a leitura destes textos, essa «teia de questões e dúvidas» em que cada autora se refere às outras autoras, numa «possibilidade de percursos cruzados» (p.13). ![]()
«Nómadas» (Braidotti) do pensamento e no pensamento, o livro convida à viagem (variação?) pelo próprio «fazer do pensamento», reflectindo, com Jane Flax, «acerca da forma como pensamos as relações de género» ou, mais ainda, como «não as pensamos» (p.103). Os textos são peremptórios quanto a esta urgência de pensar os feminismos e a forma como estes podem «estar imbuídos de relações de poder/conhecimento existentes» (Flax, 119). Como adiantado por Bock, é necessário reflectir sobre a forma como os feminismos, combatendo divisões binárias, recriam a «sua própria versão» das dicotomias: desde o binário sexo-género (bem presente nesta antologia), passando pela igualdade-diferença, até à polarização integração-autonomia (p.118). (more…)
Comentários Desativados em Variações para além do Sexo e Género
Malhas do comunismo nacionalizado
 Comunismo e Nacionalismo em Portugal abre com uma história curiosa contada por André Malraux: durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), nas proximidades de Toledo, abate-se sob as tropas republicanas mais um punhado de bombas do céu que, ao contrário de tantas outras, desta vez não explodem. Surpreendidos, os republicanos descobrem-lhes no dorso uma mensagem em português – «camarada, esta bomba não explodirá» – indiciando a sabotagem dos engenhos algures na passagem de Portugal para Espanha. Como nota José Neves, este exemplo permite dar conta da «tendência internacionalista que trespassou fronteiras estatais e identidades nacionais sem revelar grande consideração por qualquer tipo de ideologia nacionalista». O livro em causa, no entanto, analisa precisamente o reverso dessa disposição: o modo como o Partido Comunista Português, sobretudo a partir da «reorganização» empreendida nos anos 40, forjou um «nacionalismo comunista» oposto e em competição com o nacionalismo do Estado Novo.
Comunismo e Nacionalismo em Portugal abre com uma história curiosa contada por André Malraux: durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), nas proximidades de Toledo, abate-se sob as tropas republicanas mais um punhado de bombas do céu que, ao contrário de tantas outras, desta vez não explodem. Surpreendidos, os republicanos descobrem-lhes no dorso uma mensagem em português – «camarada, esta bomba não explodirá» – indiciando a sabotagem dos engenhos algures na passagem de Portugal para Espanha. Como nota José Neves, este exemplo permite dar conta da «tendência internacionalista que trespassou fronteiras estatais e identidades nacionais sem revelar grande consideração por qualquer tipo de ideologia nacionalista». O livro em causa, no entanto, analisa precisamente o reverso dessa disposição: o modo como o Partido Comunista Português, sobretudo a partir da «reorganização» empreendida nos anos 40, forjou um «nacionalismo comunista» oposto e em competição com o nacionalismo do Estado Novo.
Se é verdade que o internacionalismo proletário, por um lado, e o nacionalismo fascista, por outro, não deixaram de se confrontar – como aparece evidenciado no episódio contado por Malraux – não é menos verdade que a mundivisão comunista – nomeadamente, aquela oriunda dos partidos da Terceira Internacional – foi também animada por uma forte pulsão soberanista. Assim sendo, o nacionalismo comunista construiu-se como um nacionalismo alternativo ao do Estado Novo, mas nem por isso menos convicto na invenção de uma identidade nacional, a qual se deveria acomodar com a figura revolucionária do proletariado, numa dinâmica tensional em regra desequilibrada. Como assevera o autor: «Pretendendo-se um nacionalismo instrumental, um meio para um outro fim, o nacionalismo comunista acabou por assumir uma importância tal na história do PCP reorganizado que em nenhum momento este terá programaticamente proposto uma terra sem estados nacionais. Uma terra sem amos, sem dúvida que sim, mas não a Internacional».
Comentários Desativados em Malhas do comunismo nacionalizado
Ou a palavra não corta o silêncio

«Também eu queria escrever um poema maior que o mundo, /escrevê-lo com o mais verbal e primeiro de mim mesmo, / o mais irrefutável» (p.182)
Se A Faca que não Corta o Fogo não é o «poema maior que o mundo», (di-lo o autor, e, dizemos nós: se então o fosse, o que se inventava depois?) é porque somente o mesmo o arroga enquanto «abrupto termo dito último pesado poema do mundo» (p.207). Tê-lo-á escrito Herberto, poeta ou pessoa ou os dois, assomado pelo dom vertiginoso da língua que diz possuir e que define como uma espécie de «linha sísmica atravessando a montagem das músicas» (p.169). Não se coíbe ainda assim de lhe instar, à língua, a portuguesa que é «tudo por começar (…) com mais respiração» (p.183), a imanada prece que diz assim:
«Toca-me lábil, /língua, /alerta, silvestre, tão como vais morrer, /com menos favor, menos condição, menos poder que todos os fenómenos da língua e do mundo» (p.182)
Não sendo tudo ou esse tudo a que se propõe o escritor enquanto «organismo internamente coerente e bastante», como dizia de si, em 1964, numa das raríssimas entrevistas por si concedidas, impulsão ele próprio dos quase proféticos diálogos entre o tempo, as palavras, o mundo, as palavras e a morte e as palavras outra vez por fim, é sobre tudo e a dizer tudo que Herberto se diz, de si próprio e do seu lugar de «homem [que] vive uma profunda eternidade que se fecha sobre ele» (p.11), extinguindo-se, quase. É portanto no cometimento de dizer tudo que o autor mete «a mão inteira pelo fogo dentro» (p.179) e se subtrai ao que diz porque então não sobra nada de si que se possa dizer mais. Assim como uma equação em que os contrários em excesso, não podendo mais estar um ante a presença do outro, para se salvarem, se anulam. E portanto outra vez restamos nós, que ainda aqui estamos e que sempre ficamos porque é perante «a matéria radiosa de que é feito o mundo» (p.100) que estamos. E só por estarmos sozinhos, a sós com o poema, e porque «o caos nunca impediu nada, foi sempre um alimento inebriante.» (p.106), nos atrevemos a estar e a falar. Mas então, o que diremos? Se é do quase tudo que aqui se trata, ou assumimos que Herberto diz quase tudo e dizemos que ele próprio diz quase tudo ou não dizemos nada porque ele já disse quase tudo, e é por isso que nada quase sobra por dizer. Isso e o estarmos perante aquilo que Eduardo Lourenço chama de «catedral irreal» onde se suspende o mundo, suspensão onde forçosamente nos incluímos:
«A crítica é, por sua vez, o discurso segundo, através do qual, sem jamais poder perder de vista nem alcançar esse tempo-obra, fonte dele, nós inventamos enquanto leitores atentos, os caminhos sem cessar bifurcantes que nos dão a ilusão de que a obra é nossa substância, e como tal, a ‘compreendemos’ no momento exacto em que através dela nós acedemos ao mais luminoso obscurecimento da nossa relação com o mundo. O verdadeiro crítico é aquele que não compreende a obra e antevê (um pouco) as razões por que não pode compreendê-la.»
Resignemo-nos, portanto. Tem razão o autor de O Canto do Signo quando alerta para o facto da verdade da obra permanecer em si mesma, pelo que, mais do que vã, é paradoxal a invectiva que cabe ao crítico que a procura desvendar. Porque sendo o seu desígnio o de a ansiar, como ânsia imperiosa, quase absoluta, saberá à partida que o lugar dessa «catedral irreal» onde nos suspendemos é precisamente «No meio, / Onde se morre do silêncio central / da terra.» (p.87), já aqui Herberto novamente. E nesse outro também onde estão as palavras «que requerem uma pausa e silêncio.» (p.37) que é onde estamos quando lemos A Faca que Não Corta o Fogo, portanto, ermos, quietos, parados, ante as palavras que nos decifram e que por nos decifrarem tanto e tão demasiado não deixam lugar para mais nenhuma.
Herberto Helder (2008). A Faca Não Corta o Fogo. Lisboa: Assírio e Alvim, 207 pp. [ISBN: 978 – 972 – 37 – 1371 – 8]
Sandra Guerreiro Dias
Comentários Desativados em Ou a palavra não corta o silêncio
Do mundo inútil
 Qualquer texto num blogue parece exigir uma representação visual que não se limite àquela que a escrita vai compondo. Uma fuga à monotonia, à melancolia da leitura, à impossibilidade de conquistar seja quem for através das palavras, somente. Uma capitulação atestada da linguagem? Dir-se-ia que fazer acompanhar um texto com imagens se presta a todos os equívocos, mas também a descobertas desconcertantes.
Qualquer texto num blogue parece exigir uma representação visual que não se limite àquela que a escrita vai compondo. Uma fuga à monotonia, à melancolia da leitura, à impossibilidade de conquistar seja quem for através das palavras, somente. Uma capitulação atestada da linguagem? Dir-se-ia que fazer acompanhar um texto com imagens se presta a todos os equívocos, mas também a descobertas desconcertantes.
Os livros de WG Sebald, na sua constante reinvenção desse espaço que vai da representação à irrepresentação (como se a “realidade”, a mais dura das categorias, nos colocasse sempre perante uma espécie de exigência ou repto do que não pode ser mediado e que, paradoxalmente, exige constante mediação) são uma das mais originais incursões em torno deste território grave e perigoso. Quando lemos Sebald, questionamo-nos sempre acerca deste trabalho de ousadia – e talvez de vergonha extrema – que é levar a literatura até ao seu limite (esse lugar onde a literatura ou a arte poderão ser somente uma impertinência) e conquistar esse limite: um limite trágico, porque todo o fracasso é aí a afirmação de uma atribuição humana que excede os recursos do indivíduo e que o coloca à beira de uma fatalidade expressiva, que é a de deixar de falar de si, irrevogavelmente. O que fala através de si em Sebald?
Não o sabemos, e não sei se é muito importante sabê-lo. Tudo isto para chamar a atenção para um magnífico (e ousadíssimo) ensaio de Jorge Leandro Rosa sobre as mais devastadores fotografias que conheço, porque produto não da autoria, mas de tudo o que lhe excede, e que fará da representação, da sua possibilidade, uma aposta de testemunho e de sobrevivência. Refiro-me às fotografias que alguns elementos dos Sonderkommando tiraram clandestinamente – em circunstâncias de difícil esclarecimento – dos campos e do seu trabalho. Estas imagens – que estão no centro de uma controvérsia recente que implica Georges Didi-Huberman, Gérard Wajcman e Elisabeth Pagnoux – conduzem Jorge Leandro Rosa a uma reflexão que se joga nas codificações (justificadas ou não, do irrepresentável). Transportam-nos, como não deixa de salientar, para uma certa acepção de «infinito» ou vazio que é o símile de um horror sem autoria. Escreve Jorge Leandro Rosa:
«E há a questão daquilo que podemos designar como paisagem. Estes corpos (e o corpo do fotógrafo também) perdem-se na paisagem por diversas razões. Perder-se na paisagem é perder a própria qualidade da presença, já que a paisagem é presença sem nunca ser outra coisa, senão no artifício da representação. Ora, o que caracteriza um corpo é que este é sempre qualquer coisa sem nunca chegar a estar puramente presente. Só a carne pode ser como a paisagem, só a carne pode chegar como a paisagem ao mundo sem nunca nele ter estado verdadeiramente e sem nele marcar um lugar preciso. Sem qualquer pretensão sobre o sentido, a paisagem cresce tanto mais na consciência pictórica europeia quanto esta deixa de ser uma consciência enraizada naquilo que faz sentido. Como lembra Jean Luc-Nancy, a paisagem ‘é o lugar da estranheza e da desaparição dos deuses’. Há paisagens com horizonte, que são aquelas que reenviam para a imprecisão infinita do próprio limite do olhar, e há paisagens sem horizonte, mas que o substituem por linhas de fumo, por grupos de árvores, pela luz solar em frente do observador. Temo-las aqui. Essas são as paisagens que, de alguma forma, fizeram o mundo inútil, já que toda a observação é paisagística no sentido de ser injustificável.» («O inimaginável: leituras dos corpos e das suas imagens», in Nada, nº 12, pp. 118-119).
Luís Quintais.
Comentários Desativados em Do mundo inútil
O rapaz que olhava os navios

Versão de um nota de leitura publicada na LER de Outubro
Memória, ensaio e elegia, eis um livro escrito como história afectiva da cidade que o autor crê habitada «de ruínas e de melancolia». Escolheu observá-la a partir dos sinais de um passado que é o da sua infância e primeira juventude, fazendo-o acompanhar de recordações familiares, fotografias a preto e branco, livros e jornais envelhecidos. Por todo o lado o hüzün, uma variedade de melancolia, de tristeza, aplicada aos istambuleses que padecem de um sentimento de perda por viverem num lugar cujos dias de glória acabaram. Não se trata, porém, de um exercício meramente nostálgico, pois Istambul não foi apenas o território físico de Pamuk: foi também a casa-mãe da sua imaginação, um espaço com o qual manteve sempre uma identificação poética, o observatório privilegiado para a sua percepção das mudanças do mundo.
A antiga sede dos impérios bizantino e otomano, construída nas margens da Europa e encravada entre Oriente e Ocidente, integra uma permanente ambiguidade cultural que tem sido fonte de conflitos mas também motivo de atracção para quem chega de fora. Orhan Pamuk, que nasceu numa família da elite laica e ocidentalizada, evoca escritores vindos de longe que chegaram à procura do pitoresco e do exótico (Lamartine, Nerval, Gautier, Gide, De Amicis, entre outros), mas também autores locais – como Ahmet Rasim ou Resat Ekrem Koçu, o criador de uma original Enciclopédia de Istambul – que procuraram enunciar a cidade da quem a habitava e não repetir a perspectiva romantizada e orientalista adoptada pelos visitantes.
Comentários Desativados em O rapaz que olhava os navios
As vozes que ainda nos falam da guerra
 A guerra civil espanhola foi, durante décadas, embebida numa espécie de silêncio espesso, apenas interrompido pelos discursos triunfais sobre a «paz» dos vencedores e pelas evocações dos seus mártires. Num lúcido estudo intitulado Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española, publicado pela primeira vez em 1996, Paloma Aguilar Fernández anotou a existência na Espanha democrática de uma «memória colectiva traumática da Guerra Civil». Neste domínio, a transição não só não ajudou a sanar a ferida como contribuiu para a reforçar, ao sustentar-se num «pacto tácito entre as elites mais visíveis para silenciar as vozes amargas do passado». Como é sabido, este processo tem vindo a ser progressivamente desbloqueado por diferentes associações ligadas à recuperação da memória histórica. E recebeu importantes impulsos nos últimos tempos, com a aprovação da Lei da Memória Histórica e a mediática iniciativa do juiz Baltasar Garzón de investigar o destino das vítimas de Franco.
A guerra civil espanhola foi, durante décadas, embebida numa espécie de silêncio espesso, apenas interrompido pelos discursos triunfais sobre a «paz» dos vencedores e pelas evocações dos seus mártires. Num lúcido estudo intitulado Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española, publicado pela primeira vez em 1996, Paloma Aguilar Fernández anotou a existência na Espanha democrática de uma «memória colectiva traumática da Guerra Civil». Neste domínio, a transição não só não ajudou a sanar a ferida como contribuiu para a reforçar, ao sustentar-se num «pacto tácito entre as elites mais visíveis para silenciar as vozes amargas do passado». Como é sabido, este processo tem vindo a ser progressivamente desbloqueado por diferentes associações ligadas à recuperação da memória histórica. E recebeu importantes impulsos nos últimos tempos, com a aprovação da Lei da Memória Histórica e a mediática iniciativa do juiz Baltasar Garzón de investigar o destino das vítimas de Franco.
Significativamente, e se as primeiras obras de fôlego sobre a guerra civil foram escritas por autores estrangeiros (Hugh Thomas, Anthony Beevor, Ronald Fraser, Paul Preston), a verdade é que os espanhóis têm vindo a revelar nos últimos anos um interesse espantoso pelo assunto. Basta efectuar um passeio despreocupado pelas livrarias de uma qualquer cidade do país vizinho para nos apercebermos da crescente historiografia dedicada ao conflito que opôs republicanos e nacionalistas. Também no campo da ficção têm aparecido obras – como este volumoso As Vozes do Rio Pamano, de Jaume Cabré – que se propõe tomar o evento como alavanca narrativa. No caso deste romance, trata-se sobretudo de abordar o tempo da «ressaca», o surdo e espaçado jogo do gato e do rato que a ditadura teve de travar, durante a década de quarenta, com os fogachos ainda acesos da resistência republicana. (more…)
Comentários Desativados em As vozes que ainda nos falam da guerra
Guerra interminável

Versão de um texto publicado originalmente na revista LER de Setembro
A linguagem deste livro parecerá um tanto árida a quem não estiver familiarizado com a literatura sobre arte da guerra. O seu autor, Robert Smith, não é um historiador mas um militar de carreira, que remexe no passado da guerra principalmente para melhor a compreender e para preparar a sua condução no seu presente. No activo durante 40 anos, o General Smith ocupou elevados lugares de chefia nos conflitos do Iraque, da Bósnia e da Irlanda do Norte, entre muitos outros postos de responsabilidade. O ponto de partida, fundado no conhecimento da história e na experiência pessoal, é convicção de que a natureza da guerra mudou muito nas últimas décadas. Mas é também a certeza de que a nova realidade não é ainda devidamente apreendida, o que tem determinado decisões erradas e obsoletas. Sugere então a oposição entre dois paradigmas que cosnidera terem-se sucedido no tempo.
A Europa viveu séculos de campanhas militares pouco flexíveis. Através delas, governos e governantes limitavam-se a reorganizavar os mapas dos territórios, resguardando sempre o centro de um poder que deveria permanecer inatacável. Napoleão mudou profundamente esta realidade ao servir-se dos recursos humanos e morais da nação para destruir o opositor e instalar uma nova ordem, enquanto Clausewitz deu consistência teórica a esta nova forma de combater, e as reformas aplicadas pelo Estado prussiano lograram estabelecer um poder estável assente na «guerra industrial». Para Smith, esta ter-se-á fundado na procura de uma vitória absoluta, no conflito aberto e total entre Estados, na manobra flexível dos grandes exércitos e num apoio humano e material à actividade guerreira colocado pelos governos acima de quaisquer outros interesses.
Ao invés, o novo paradigma da «guerra entre o povo», emergente durante o período da Guerra Fria, funda-se, para o autor, na alternância entre o confronto aberto e o conflito localizado, independentemente do Estado enfrentar outro Estado ou um oponente de diferente natureza. Aqui não existe uma sequência pré-definida e a paz não é necessariamente o ponto de partida ou de chegada. Nenhum acto de força é agora decisivo, e a violência permanece disseminada no território, não distinguindo civis e militares, como ocorre hoje no Iraque, no Afeganistão ou no Kosovo. Pelo meio, Smith ocupa-se de situações no decorrer das quais o conflito entre os dois paradigmas, aquele que começava a revelar-se caduco e o que se anunciava emergente, redundou em operações que terminaram frequentes vezes – como ocorreu na China ou no Vietname, em Cuba ou em África, nos Balcãs ou no Médio-Oriente – com a vitória das forças tecnicamente pior preparadas.
Smith insiste em que, sob a nova forma de pensar e de fazer a guerra, o objectivo central passou a ser ganhar «a batalha das vontades». Não procurar o extermínio do inimigo mas uma mudança favorável na opinião pública. O que determina a alteração da conhecida tese clausewitziana sobre a guerra como a continuação da política: agora guerra e política confundem-se no tempo e nos modos.
Rupert Smith, A Utilidade da Força. A Arte da Guerra no Mundo Moderno. Tradução de Miguel Mata. Edições 70, 480 págs.
Rui Bebiano
Comentários Desativados em Guerra interminável
A primeira vaga «maoísta»
 Quem, de algum modo, conhece a história dos conflitos ideológicos no campo da esquerda durante as décadas de sessenta e setenta, identifica o papel fundamental que desempenhou o chamado «maoísmo» na construção de um discurso simultaneamente de proximidade e ruptura com as práticas dos partidos comunistas tradicionais, bem como a sua importância na politização de algumas franjas da sociedade, com intensa expressão nos territórios estudantis. Em O um dividiu-se em dois, José Pacheco Pereira (JPP) procede à revisão atenta do conflito sino-soviético, anotando a constituição, um pouco por todo o mundo, de estruturas autónomas alinhadas com as teses de Pequim. A genealogia ideológica da inaugural manifestação portuguesa desse fenómeno – a FAP/CMLP, criada em 1964 – é também objecto de tratamento neste volume, que é apresentado como o primeiro de uma série dedicada a diferentes aspectos dos movimentos radicais de esquerda desses anos.
Quem, de algum modo, conhece a história dos conflitos ideológicos no campo da esquerda durante as décadas de sessenta e setenta, identifica o papel fundamental que desempenhou o chamado «maoísmo» na construção de um discurso simultaneamente de proximidade e ruptura com as práticas dos partidos comunistas tradicionais, bem como a sua importância na politização de algumas franjas da sociedade, com intensa expressão nos territórios estudantis. Em O um dividiu-se em dois, José Pacheco Pereira (JPP) procede à revisão atenta do conflito sino-soviético, anotando a constituição, um pouco por todo o mundo, de estruturas autónomas alinhadas com as teses de Pequim. A genealogia ideológica da inaugural manifestação portuguesa desse fenómeno – a FAP/CMLP, criada em 1964 – é também objecto de tratamento neste volume, que é apresentado como o primeiro de uma série dedicada a diferentes aspectos dos movimentos radicais de esquerda desses anos.
Como sugere JPP, apesar dos grupos pró-chineses terem adquirido características específicas de acordo com a realidade nacional em que se inseriam, o certo é que a sua matriz é directamente devedora do questionamento chinês e albanês da tese da «coexistência pacífica» defendida por Moscovo. Se, no final da década de cinquenta, os primeiros confrontos, ainda latentes, têm como pano de fundo a questão da cooperação militar e os obstáculos ao programa de armamento nuclear da China, rapidamente a crítica se centra nas acusações do abandono soviético da luta de classes mundial, por entre acusações cruzadas de «revisionismo» e «esquerdismo». Em final de 1963 a cisão estava consumada e a partir desta altura começam a proliferar partidos alinhados com as teses chinesas. (more…)
Comentários Desativados em A primeira vaga «maoísta»
O «outro» Quaresma
Comentários Desativados em O «outro» Quaresma
Aproveitando o embalo do «Maio» (III)
 Em Anti-Disciplinary Protest. Sixties Radicalism and Postmodernism, a australiana Julie Stephens procurou mostrar a correspondência entre o radicalismo da década de sessenta e a pós-modernidade, rejeitando a leitura comum que descobre uma relação entre o fracasso do período e o desespero político posterior. Ao mesmo tempo, a autora propõe um modo alternativo de equacionar a herança da década, assente na ideia de que foi o êxito deste movimento, e não o seu insucesso, que abriu caminho ao acolhimento de algumas noções hoje dominantes sobre a política e o político. Por outras palavras, o desencantamento trazido pela pós-modernidade foi o resultado do reencantamento do político efectuado pela contracultura dos anos sessenta. A tese de Stephens é, no entanto, um pouco mais complexa, introduzindo uma nuance significativa: se, por um lado, a contracultura sixtie abriu caminho ao entendimento da política como impasse, por outro, ela não abdicara de um certo ideal difuso de emancipação, ainda que o tenha reconfigurado radicalmente a partir do carácter paródico das suas intervenções.
Em Anti-Disciplinary Protest. Sixties Radicalism and Postmodernism, a australiana Julie Stephens procurou mostrar a correspondência entre o radicalismo da década de sessenta e a pós-modernidade, rejeitando a leitura comum que descobre uma relação entre o fracasso do período e o desespero político posterior. Ao mesmo tempo, a autora propõe um modo alternativo de equacionar a herança da década, assente na ideia de que foi o êxito deste movimento, e não o seu insucesso, que abriu caminho ao acolhimento de algumas noções hoje dominantes sobre a política e o político. Por outras palavras, o desencantamento trazido pela pós-modernidade foi o resultado do reencantamento do político efectuado pela contracultura dos anos sessenta. A tese de Stephens é, no entanto, um pouco mais complexa, introduzindo uma nuance significativa: se, por um lado, a contracultura sixtie abriu caminho ao entendimento da política como impasse, por outro, ela não abdicara de um certo ideal difuso de emancipação, ainda que o tenha reconfigurado radicalmente a partir do carácter paródico das suas intervenções.
Para se entender os contornos desta ligação, é necessário ter presente a noção foucaultiana de «protesto anti-disciplinar», eixo conceptual através do qual se vai desdobrando o texto. Para Stephens, a radicalidade dos anos sessenta resulta da invenção de uma nova linguagem de protesto, marcada pela celebração da ambiguidade e por uma recusa da «disciplina do político» (p.23). Partindo de uma re-leitura da década que se concentra em algumas vertentes mais radicais da contracultura, geralmente desconsideradas, a autora revê as interpretações que descrevem os anos sessenta a partir de distinções rígidas como as efectuadas entre activistas e hippies ou radicalismo político e intervenção cultural.
Na sua opinião, a nova linguagem de protesto caracteriza-se precisamente por uma transgressão deliberada destas distinções. É isso que Stephens procura demonstrar recorrendo à evocação de acontecimentos como a tentativa de levitação do Pentágono, encenada em 1967, ao exame de práticas e discursos de grupos como os Yippies e os Diggers ou à análise do conceito de «livre» [free], entendido já não apenas como resgate dos constrangimentos sociais, económicos e políticos, à maneira da esquerda tradicional, mas também como uma espécie de «qualidade corpórea» de «ressonâncias metafísicas» (p.43). De modo semelhante, e ao mesmo tempo que se elaborava uma crítica mais convencional ao imperialismo, patente nas manifestações contra a guerra do Vietname ou no apoio a Cuba, desenvolviam-se narrativas sobre o Outro – colonizado, estrangeiro, diferente – por vezes bastante afastadas da realidade mas que permitiam estabelecer relações de atracção com o longínquo.
A maneira como o movimento defendia uma «ética do prazer», contraposta a uma «ética do trabalho», levou a que se difundisse uma imagem comum que o associa à mera exaltação do hedonismo, característica que o havia tornado extremamente dócil e, portanto, facilmente apropriável pela lógica de consumo do capitalismo tardio. Num sentido diferente, Stephens ressalva que o esforço de ultrapassar a linguagem e a racionalidade disciplinar aponta para uma clara consciência dos perigos de uma cooptação pelo sistema. Esta problemática está, aliás, omnipresente ao longo dos anos sessenta e produziu duas repostas diferenciadas. A primeira foi elaborada por grupos como os Yippies, através do desenvolvimento de uma linguagem baseada na paródia, no humor e na ironia que, longe de procurar anular os paradoxos, os amplificava intencionalmente, num registo anti-disciplinar e, por isso mesmo, desconcertante. A segunda foi proveniente de organizações ultra-militantes como o Weather Underground que, influenciados pelo terceiromundismo e pela crença na necessidade de uma revolução violenta, trocaram a guerrilha teatral pela guerrilha real. A autora utiliza precisamente o exemplo dos Weathermen para atestar a tensão entre uma política disciplinar e anti-disciplinar no seio do movimento: por um lado, consideravam-se uma vanguarda composta por células secretas prontas para a acção armada contra o Estado, com tudo o que isso tem de devedor à ordem, ao auto-controlo e ao sacrifício pessoal; por outro, encaravam a revolução como um jogo perigoso e usavam LSD como forma de «libertar os membros do grupo de qualquer tipo de controlo interno ou externo» (p. 92).
Se a estetização do político foi uma das vias que deu oportunidade à neutralização da contestação, foi ela também que permitiu uma visão criativa, anti-burocrática e anti-disciplinar do político. A teatralização do protesto conduziu à tendência pós-moderna de esbatimento da tensão entre crítica e alienação, entre superfície e profundidade, entre realidade e representação, ao mesmo tempo que renovou a forma e o conteúdo do activismo, integrando elementos como o humor e a criatividade e concedendo uma atenção especial à polifonia dos sujeitos.
Julie Stephens (1998), Anti-Disciplinary Protest. Sixties Radicalism and Postmodernism. Cambridge: Cambridge University Press. 170 pp. [ISBN 0-521-62976-4]
Miguel Cardina
Comentários Desativados em Aproveitando o embalo do «Maio» (III)




Comentários Desativados em 30 anos depois, os Xutos ainda (nos) tocam? (II)